Benjamin Wiker
2008
“Portanto, é necessário para um príncipe, se quiser preservar-se no poder, que aprenda a ser hábil em não ser bom”
— Nicolau Maquiavel (1469-1527)
Você provavelmente já ouviu o termo “maquiavélico” e conhece suas conotações desagradáveis. No dicionário, maquiavélico aparece junto de adjetivos degradantes como mentiroso, duas-caras, falso, hipócrita, ardiloso, pérfido, desonesto e traiçoeiro.
Quase um século depois de sua morte, Nicolau Maquiavel já ganhara sua infâmia no Ricardo III de Shakespeare como “o assassino Maquiavel”. Quase cinco séculos depois de ter escrito seu famoso tratado, O Príncipe, seu nome ainda faz ressoar algo de crueldade calculada, ou fria brutalidade.
Apesar das tentativas recentes de se retratá-lo como um mero, humilde e inofensivo professor, da mais prudente diplomacia, eu vou adotar aqui a velha abordagem e tratá-lo como um dos mais exímios mestres da maldade que o mundo já conheceu. Seu grande clássico O Príncipe é um monumento de conselhos perversos, destinado a governantes que já haviam abandonado todo e qualquer escrúpulo moral e religioso e estavam, portanto, dispostos a realmente acreditar que o mal — o mais negro, profundo e impensável mal — é freqüentemente mais efetivo que o bem. Esse é o verdadeiro poder e o veneno d’O Príncipe: nele, Maquiavel torna considerável o mais inadmissível pressuposto. Quando a razão é assim persuadida a aceitar pensamentos ímpios, seguem-se atos tão ímpios, ou mais.
Nicolau Maquiavel nasceu em Florença, na Itália, no dia 3 de maio de 1469, filho de Bernardo de Nicolau Buoninsegna e sua mulher, Bartolomea de Nelli. É justo que se diga que ele nasceu em tempos tortuosos. À época, a Itália não era uma nação unificada, mas um ninho de ratos, repleta de intrigas, corrupção e conflito entre as cinco principais regiões guerreiras: Florença, Veneza, Milão, Nápoles e os estados papais.
Maquiavel presenciou a era de maior hipocrisia religiosa da história, na qual papas e cardeais não passavam de lobos políticos em pele de cordeiro. Ele também conheceu, em primeira mão, a fria crueldade dos príncipes e reis: suspeito de traição, Maquiavel foi jogado na prisão. Para extraírem dele sua “confissão”, submeteram-no a um castigo chamado stappado: seus punhos foram amarrados às suas costas, numa corda que se ligava a uma roldana pendurada no alto do teto. Ele era puxado para cima e pendia no ar pelos braços, dolorosamente, e então era subitamente arremessado de volta ao chão, o que fazia com que seus braços fossem se desencaixando de suas articulações pouco a pouco. Repetia-se esse agradável interrogatório inúmeras vezes.
Maquiavel conheceu o mal. Mas tanto quanto muitos outros, de outras tantas épocas e lugares. Nunca faltará maldade no mundo, nem nunca faltarão vítimas. O que torna Maquiavel um caso à parte é que ele olhou nos olhos do mal e sorriu. Esse sorriso cordial, e uma piscadinha, é O Príncipe.
O Príncipe é um livro chocante — artisticamente chocante. Maquiavel queria começar uma revolução na alma dos leitores e suas únicas armas para a rebelião eram as palavras. Ele afirmou veementemente o que muitos outros ousaram apenas cochichar, e cochichou o que tantos outros não ousaram nem cogitar.
Vamos dar uma olhada no capítulo 18, por exemplo. Deveria um príncipe conservar sua fé, honrar suas promessas, trabalhar de forma honesta, ser ele mesmo honesto, e essas coisas? Bem, divaga Maquiavel, “todos compreendem” que é “louvável […] que um príncipe mantenha sua fé [sua palavra] e viva honestamente”! Todos enaltecem o governante que é honesto. Todos sabem que a honestidade é a melhor política. Todos conhecem os exemplos da Bíblia de reis honestos sendo abençoados e reis desonestos sendo amaldiçoados, e a literatura antiga está repleta de adorações a soberanos cheios de virtudes.
Mas será que esse julgamento popular é verdadeiramente sábio? Os bons líderes são os líderes de sucesso? Mais importante ainda: todos os líderes de sucesso são bons? Ou a bondade, para um líder, significa apenas obter o êxito em suas empreitadas, e, portanto, tudo aquilo que leva ao êxito — independentemente do que os outros digam a respeito — é, por definição, algo bom?
Bem, diz Maquiavel, vejamos o que acontece no mundo real. Nós sabemos “por experiência, no nosso tempo, que os príncipes que fizeram grandes coisas foram os que não se preocuparam muito em manterem-se fiéis”. Manter sua palavra é besteira se isso for lhe causar algum prejuízo. Agora, “se todos os homens fossem bons, esse princípio não seria bom; mas como eles são todos perversos e não vão manter a palavra com você, você também não precisa mantê-la com eles”.
Mas não é apenas a fidelidade às próprias palavras que deve ser descartada em virtude da maior conveniência. A idéia toda de ser bom, assume Maquiavel, é um tanto ingênua. Um príncipe eficiente deve se preocupar não em ser bom, mas em parecer bom. Como bem sabemos, as aparências enganam, mas, para um príncipe, a enganação é coisa boa, é uma arte a ser aperfeiçoada. Um príncipe, portanto, deve ser “um bom fingidor e dissimulador”.
Então, se é assim — alguém poderia perguntar —, um líder deve mesmo ser misericordioso, fiel, humano, honesto e piedoso? Nem um pouco! “Não é necessário que um príncipe possua qualquer uma dessas qualidades mencionadas acima, mas é deveras necessário que ele pareça possuí-las. Antes ainda, eu ouso dizer que, se ele as possuir e as observar com constância, elas lhe serão prejudiciais; se parecer possuí-las, elas lhe serão úteis”. Portanto, é muito melhor, muito mais sábio, “parecer misericordioso, fiel, humano, honesto e piedoso”, e se você precisar ser cruel, infiel, desumano, desonesto e ímpio, aí então, bem, a necessidade é a mãe da invencionice, então invente quaisquer meios diabólicos para fazer todo mal que lhe for necessário e, enquanto isso, sustente uma boa aparência.
Deixe-me dar dois exemplos dos conselhos de Maquiavel colocados em ação, o primeiro tirado do próprio O Príncipe, o outro dos dias de hoje. Dificilmente pode-se imaginar alguém mais perverso que César Bórgia — homem que Maquiavel conheceu pessoalmente. Ele foi nomeado cardeal pela Igreja Católica, mas abdicou do seu posto para partir em busca da glória política (e a alcançou, da maneira mais cruel possível). Bórgia era um homem sem consciência. Ele sequer hesitava em operar crueldades enormes para assegurar e manter seu poder. É claro que isso dava a ele uma péssima reputação entre seus conquistados, o que gerava aquele tipo de amargura que precede uma rebelião. No capítulo 7, Maquiavel apresenta ao seu leitor uma interpretação prática e interessantíssima do método Bórgia de lidar com problemas.
Uma das regiões que Bórgia havia arrebatado era a Romanha, que Maquiavel descreve como sendo uma “província […] repleta de assaltos, brigas e todo tipo de insolências”. Bórgia, é claro, queria “conduzi-la à paz e à obediência”, já que é difícil governar o desgovernado. Mas se ele, pessoalmente, os endireitasse, o povo iria odiá-lo e o ódio gera rebeliões.
Então, o que fez Bórgia? Ele enviou um homem de confiança chamado Ramiro de Orco, “um homem prático e cruel, a quem ele confiou todo o poder”. Ramiro fez todo o trabalho sujo, mas isso obviamente o sujou também. O povo odiou Ramiro por suas investidas contra as rebeliões que faziam e o espírito revolto que tinham, e por suas tentativas de torná-los um povo obediente. Mas como ele era um tenente aos comandos de Bórgia, este deveria ser odiado também.
Mas Bórgia era um homem astuto. Ele sabia que precisava fazer o povo acreditar que “se alguma crueldade havia sido feita, isso não tinha vindo dele, mas da natureza implacável de seu ministro”. Foi então que Bórgia expôs Ramiro “certa manhã, na praça de Cesena, [cortado] em dois pedaços, junto de um pedaço de madeira e uma faca ensangüentada ao seu lado. A ferocidade desse espetáculo deixou o povo de uma só vez satisfeito e em estupor”.
Satisfeito e em estupor. O povo rebelde da Romanha estava contente em ver o agente da crueldade de Bórgia de repente aparecer, numa manhã ensolarada, dilacerado ao meio em plena praça pública. O próprio Bórgia foi quem satisfez seus desejos de vingança! Só que, ao mesmo tempo, eles caíram em obediência, como que entorpecidos por um espetáculo inesperado e de uma brutalidade engenhosa.
A imaginação do leitor, logo que se depara com uma imagem do horror, começa a especular. Um homem cortado ao meio. Mas na vertical ou na horizontal? Uma faca ensangüentada. Simplesmente largada ao lado do corpo? Ou fincada no pedaço de madeira? Uma simples faca é capaz de abrir um homem em dois pedaços? E por que um pedaço de madeira? Seria de um açougueiro?
Uma coisa é certa: Maquiavel não culpa Bórgia por sua engenhosa crueldade, mas sim o louva. Ele foi muito humano por ter escondido o desumano, muito misericordioso por ter ocultado a total ausência de misericórdia. “Eu não teria motivos para censurá-lo”, diz Maquiavel sobre Bórgia e toda sua vida de ações tão covardes quanto essa. “Ao contrário, parece-me que ele deve ser enaltecido, como eu estou fazendo, para que seja imitado por todos aqueles que subirem ao poder por forças do destino”.
Não é preciso ser tão brutalmente pitoresco quanto Bórgia, no entanto, para seguir os conselhos de Maquiavel. Como bem sabe qualquer um que acompanha o atual cenário político, é muito frequente testemunharmos o não tão sangrento (mas igualmente engenhoso) espetáculo no qual um subordinado qualquer de algum presidente ou homem do congresso imola-se publicamente para aliviar a barra do seu superior. Por trás das aparências encenadas, esse funcionário — como o pobre Ramiro, que só estava exercendo as ordens do seu chefe — está sendo sacrificado para satisfazer e impressionar o eleitorado.
Isso nos leva ao nosso segundo exemplo de maquiavelismo em ação. “Um príncipe deve cuidar, portanto”, diz Maquiavel, voltando à sua lista de virtudes, “para que nada escape de sua boca que não esteja preenchido das cinco qualidades acima mencionadas”, para que “ele sempre pareça ser todo-misericordioso, todo-fiel, todo-honesto, todo-humano e todo-piedoso. E não há nada mais necessário do que parecer possuir essa última qualidade”. E de suma importância que um líder — e até os que almejam sê-lo — aparente ser piedoso. “Todos vêem como você aparenta ser”, mas só “poucos tocam naquilo que você de fato é”, e parecer ser piedoso é o que garante àqueles que lhe vêem que, porque você aparentemente acredita em Deus, você é digno de todas as outras virtudes. Certas coisas nunca mudam em política.
Mas a duplicidade não é o único patrimônio d’O Príncipe de Maquiavel. O estrago é muito mais profundo que isso. O tipo de aconselhamento que Maquiavel oferece n’O Príncipe só pode ser dado (e aceito) por quem não tem medo algum do Inferno, que já descartou a noção da imortalidade da alma como sendo uma ficção boba e que acredita que, já que Deus não existe mesmo, nós somos livres para nos pervertermos à vontade, se isso servir aos nossos propósitos. Isso para não dizer que Maquiavel aconselha o mal não só para alcançarmos nossos próprios objetivos; ele faz algo muito mais destrutivo: o mal é aconselhado sob a desculpa de que ele é benéfico. Maquiavel convence o leitor de que grandes atrocidades, atos cruéis e crimes inenarráveis não só são permitidos como louváveis, se feitos a serviço de algum bem. Como esse aconselhamento impera nos reinos do ateísmo, aí então não há limites para o mal que alguém pode fazer quando crê que está, de algum modo, ajudando a humanidade. Não nos deve surpreender que O Príncipe era o livro de cabeceira do líder revolucionário ateu Vladmir Lênin, para quem os fins gloriosos do comunismo justificavam seus meios brutais.
Já que essa será uma conexão importante também para os próximos livros que discutiremos, nós devemos nos alongar um pouco mais na relação entre o ateísmo e o tipo de aconselhamento impiedoso dado por Maquiavel. Um dos princípios fundamentais do cristianismo — a religião que construiu a civilização na qual Maquiavel nasceu, e aquela que ele negou — é o de que nunca é permitido fazer um mal a serviço de um bem. Você não pode mentir sobre suas capacidades para conseguir um emprego; você não pode matar bebês inocentes para conseguir avançar na carreira; você não pode começar uma guerra para impulsionar a economia ou seu índice de aceitação pública; você não pode recorrer ao canibalismo para resolver o problema da fome; você não pode cometer adultério para conseguir ser promovido.
A raiz dessa proibição é, obviamente, o fato de que algumas ações são intrinsecamente más. Não importam as circunstâncias ou os benefícios alegados, nem mesmo os concretos — alguns atos não podem ser feitos. Infelizmente, nos dias de hoje, esse não é o modo mais comum de se pensar. Quando você diz para alguém que existem ações que são intrinsecamente más — tão sujas, tão ímpias que só de pensar em fazê-las já herdamos uma marca negra na alma —, a resposta comum é um sorriso afetado, seguido de uma proposição completamente absurda de um contexto em que você estaria supostamente forçado a escolher um ato horroroso em detrimento de outro cujas consequências seriam mais horríveis ainda. “E se um terrorista mandar você escolher entre atirar na sua avó e depois arrancar a pele dela, ou explodir a cidade inteira de Nova Iorque?”. O pressuposto oculto do engraçadinho é que, claro, o melhor a se fazer é salvar a cidade de Nova Iorque, fuzilando e esfolando sua avó, e que, portanto, não há bem ou mal absolutos.
O fato é que os engraçadinhos são péssimos lógicos. Ora, se realmente não há ações intrinsecamente más, então não há problema algum em explodir Nova lorque inteira para salvar sua avó. Mas o importante, para os nossos objetivos aqui, é que essa pessoa estaria usando precisamente o modo de raciocinar que Maquiavel usa n’O Príncipe. Maquiavel é originalmente o filósofo do “os-fins-justificam-os-meios”. Nenhum ato é tão mal que alguma necessidade ou algum bem não possam suavizá-lo.
Mas de que modo tudo isso se liga ao ateísmo? De novo, teremos de nos basear na religião que historicamente definiu os princípios de fé que Maquiavel rejeitou. Para o cristão, nenhuma necessidade temporal e terrena pode ser comparada à eternidade. Cometer um ato intrinsecamente mau separa-nos do bem eterno que é o Céu, seja qual for o benefício no qual isso resulte para nós aqui e agora. Nenhum bem que experimentemos agora é capaz de valer o sofrimento eterno do Inferno. Além do mais, como Deus é Todo-Poderoso, então, do ponto de vista da eternidade, nenhuma má ação cuja prática pareça ser, nesta vida, necessária e benéfica, pode ser, realmente, necessária ou benéfica. Crer de modo diferente disso é apenas uma tentação; na verdade, é a tentação.
Como veremos nos capítulos a seguir, a complacência com a tentação de se fazer um mal a serviço de um bem será a fonte de uma carnificina sem precedentes no século XX, tão horrível que, para aqueles que sobrevivem, é como se o Inferno tivesse subido à Terra (por mais que essa matança tenha sido amplamente perpetrada por pessoas que descartam a existência do Inferno). A lição aprendida – ou, que deveria ter sido aprendida – com essas épicas destruições é a seguinte: uma vez que nos permitimos cometer algum mal para que algum suposto bem aconteça, aceitaremos males cada vez maiores por conta de bens cada vez mais questionáveis, até que concordemos com os maiores males possíveis em troca de qualquer ninharia.
Remova Deus do quadro, e logo não haverá mais limite algum para o mal, e nenhum bem será supérfluo demais. Tome como exemplo essa reportagem do jornal britânico The Observer, de três anos atrás [2005]: na Ucrânia, que por muito tempo sofreu sob o jugo soviético, mulheres grávidas estavam sendo pagas por volta de 180 euros por seus fetos, que eram vendidos pelas clínicas de aborto por algo em torno de 9.000 euros. Por quê? Porque seus tecidos corporais eram usados em tratamentos cosméticos. Mulheres grávidas estavam — e ainda estão — sendo pagas para matar seus filhos para que mulheres mais velhas da Rússia possam rejuvenescer suas peles com cosméticos à base de fetos.
Mas, para voltar a Maquiavel, o ponto é o seguinte: para aceitar a noção de que não é apenas permissível, mas também louvável fazer o mal por algum bem, a pessoa tem de negar Deus, a alma e a vida eterna. Isso é justamente o que fez Maquiavel, e esse é o efeito definitivo de seus conselhos.
Pode-se dizer, como objeção, que Maquiavel parecia ser religioso em seus escritos, jogando algumas frases piedosas aqui e ali, falando com certo respeito (ainda que de forma um tanto contida e estranha) sobre assuntos religiosos. Portanto, argumenta-se, já que ele parece ser piedoso, devemos ao menos suspeitar de suas más intenções.
Para mim, é difícil lidar com essa objeção tão banal porque ela mostra uma preocupante incapacidade de se perceber o óbvio (e muito menos o sutil) em Maquiavel. Não foi ele que acabou de nos ensinar a importância de se parecer religioso? Quem foi que nos disse que é necessário, para alguém que quer ser um grande líder, ser um bom fingidor e dissimulador? Quem está agindo para ser o líder maior: o governante temporário de um pedaço de terra ou o filósofo que busca formar todos os governantes futuros e, inclusive, toda uma nova filosofia?
Repetimos, portanto: Maquiavel não poderia aconselhar os príncipes a abandonarem qualquer noção de Deus, da imortalidade da alma e da vida eterna se ele mesmo já não tivesse abandonado todas as três. Por isso é que ele pode chamar de bem o mal, e de mal o bem.
Isso pode ser visto claramente no famoso capítulo 15. Maquiavel informa o leitor, com todas as letras, de que ele está se diferenciando de todos os outros que já falaram sobre o bem e o mal. Ele lidará com o mundo real, com a maneira como as pessoas agem em repúblicas e principados reais. Enquanto que “muitos outros imaginaram repúblicas e principados que jamais foram vistos ou sequer se sabe se existiram ou não na realidade”, nós, realistas, não devemos ter em vista meras fantasias. Nós não podemos nos guiar por aquilo que é bom (ou, pelo menos, aquilo que é chamado de bom), adverte-nos Maquiavel; nós devemos guiar-nos por aquilo que é eficaz. “Pois um homem que sustentar sua bondade em todos os âmbitos da vida certamente cairá em total descrédito com muitos outros que não são bons. Portanto, é necessário para um príncipe, se quiser preservar-se no poder, que aprenda a ser hábil em não ser bom, e a usar ou não dessa habilidade conforme a necessidade”.
No embate entre realidade e fantasia, Maquiavel escolhe a real-politik. E onde estão essas repúblicas imaginárias que ele rejeita tão ferrenhamente? Uma seria a República de Platão, na qual Sócrates afirma que o homem deve lutar, acima de tudo, para ser bom. Outra seria a de Cícero em Da República, onde o argumento é o mesmo. Mas a rejeição mais importante de Maquiavel é a da noção cristã de Céu. Ele deixa essa rejeição bem clara em outros escritos (em seus Discursos sobre a primeira década de Tito Lívio, por exemplo), quando ele argumenta que a perspectiva do Céu destrói todas as nossas tentativas de tornar essa vida — nossa única vida real — mais agradável.
Maquiavel afirma que o cristianismo foca nossas energias num reino celeste imaginário e, portanto, nos aliena de fazer deste mundo real um lar mais pacífico, confortável e até mais prazeroso. Mais ainda, o cristianismo amarra-nos em regras morais — reforçadas, de um lado, pelo tridente imaginário do Inferno, de outro, pela imaginária cenoura de recompensa: o Céu —, impedindo-nos assim de fazer o trabalho sujo necessário. Maquiavel é quem inicia, portanto, o enorme conflito entre o secularismo moderno e o cristianismo, que define intensamente toda a história dos próximos 500 anos do Ocidente – e, quanto a isso, O Príncipe revelará suas marcas em todos os livros que ainda analisaremos.
Excerto de: BENJAMIN WIKER; 10 livros que estragaram o mundo, Vide Editorial, 2015, pp. 13-22.





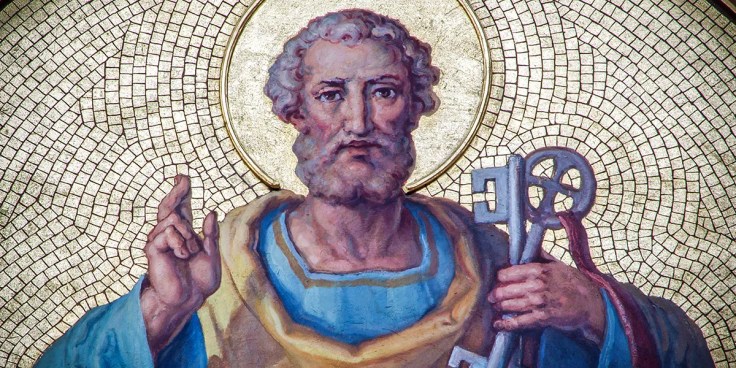







Deixe um comentário