UMA ANÁLISE CATÓLICA, INTELECTUALMENTE HONESTA E TOMISTA DA ESCOLA AUSTRÍACA DE ECONOMIA
Luciano Takaki
2024
INTRODUÇÃO
Soube por alguns que o fato de ter reatado a amizade com Paulo Kogos e ter adotado a Escola Austríaca de Economia (EAE) como a regra do pensamento econômico causou certa controvérsia. Por quê? Porque para eles a Escola Austríaca é “liberal”, “anticatólica”, “favorável à avareza”. Nada mais longe da verdade.
O problema de muitos é não conhecer as devidas distinções. Infelizmente, a bolha tradicionalista padece do gravíssimo defeito da estatolatria. O que também impressiona é como muitos vomitam que concordar com seus axiomas implicaria ser liberal. Não é bem assim.
Antes de fazer a minha breve exposição, antecipo dois avisos para que ninguém se sinta confundido e escandalizado:
1. Não estou aqui defendendo a EAE em todas as suas concepções e terminologias. O que quero expor aqui é que ela pode ser aceita em seus axiomas com o devido preenchimento de valores católicos e corrigindo suas terminologias. A EAE não é infalível ou inerrante. É uma escola de pensamento econômico cujos teóricos são falíveis ou mesmo infiéis. No entanto, assim como a filosofia contém elementos verdadeiros que podemos apropriar mesmo com filósofos pagãos, o mesmo podemos dizer de uma escola de pensamento econômico. O meu objetivo é demonstrar que a EAE, dentro das escolas modernas, é a mais realista de todas.
2. Tampouco quero aqui dogmatizar a EAE. Infelizmente isso é muito comum entre os católicos tradicionais: dogmatizar opiniões. Não quero aqui dizer que quem não aceita os axiomas austríacos sejam hereges. Muito longe disso, quem não aceita, a meu ver, são pessoas que ou não estão dispostas a entender ou simplesmente discordam mesmo. Não direi aqui sequer que estão erradas economicamente. Exporei apenas o que julgo seus acertos e os pontos corrigíveis.
3. Não sou economista. Exporei aqui como alguém que leu sobre economia. Em especial os austríacos. Aqui escreverei sobre o que aprendi em economia e buscarei conciliar (ou confrontar, caso for necessário) com o que aprendi estudando tomismo. Quem for economista de fato, esteja à vontade para corrigir-me ou precisar melhor o ponto. A minha intenção é demonstrar o realismo da EAE não apoiado na minha opinião, mas dentro do que os economistas austríacos ensinam e a coerência com o tomismo corrigindo os termos a adaptando os conceitos.
4. Tampouco, devido à falta de material, compararei a doutrina dos austríacos com os escolásticos tardios. A razão é simples: não quero aqui pagar de erudito porque simplesmente não tive e nem tenho acesso às obras econômicas deles e tampouco tenho tempo para analisá-las. Aqui usarei o meu instrumental filosófico adquirido de cinco anos de tomismo e só. Tampouco vou averiguar se o que autores trataram sobre os escolásticos está correto. Daniel Arribas Marín fez isso parcialmente, mas não chegou a pôr à prova os axiomas que trataremos aqui.
Dada as observações, exporei primeiramente a doutrina católica e depois os axiomas austríacos corrigidas e com as observações. Com respeito ao papel do Estado (ou não) na economia do país, não é o objetivo do artigo. Isso deverá ser tratado em outro momento. O que adianto sobre isso é que, a meu ver, o Estado moderno tem uma autoridade precária (cf. “Se há autoridade no Estado moderno”).
UM POUCO DA VISÃO CATÓLICA
Existe algo na teologia moral católica chamada justiça distributiva. Esse princípio nos ensina que a Criação tal como existe foi feita para todos os homens. Assim, é necessário que a racionalidade e a caridade humana ordenem os bens da Criação a serviço do homem para que o mesmo glorifique a Deus. No entanto, os bens da Criação não serão distribuídos igualmente a todos os homens assim como os bens sobrenaturais também não o são. Assim como alguns homens são predestinados e outros reprovados pelo mau uso do livre arbítrio, mutatis mutandis também uns serão materialmente ricos e outros pobres.
Vejamos assim o que ensina o Pe. Júlio Meinvielle:
“[T]odas aquelas coisas que sobram, uma vez satisfeitas as necessidades do próprio estado, são supérfluas e não resultam bens se se mantêm acumulados ou se usam para satisfazer a sede dos prazeres. Há obrigação grave, segundo determinaremos na próxima seção, de participar de seu uso a todos os membros da comunidade social, para que resultem bens úteis ao homem, isto é, bens materiais humanos, que só devem ser usados conquanto conduzam à plenitude racional e à destinação sobrenatural do homem. Devemos servir-nos da riqueza como filhos de Deus que nos chamamos e somos.”
(Concepção Católica da Economia, Centro Anchieta Editora, 2020, pp. 30-31)
Segundo alguns objetores (como Christopher Ferrara e Daniel Arribas Marín), citações como essa confrontam com a EAE. Nada mais falso. Assim como nada mais falso crer que o conjunto de opiniões particulares de austríacos como Mises, Rothbard, Hayek etc, provariam o quão EAE é falsa. Eles falaram muita besteira e realmente fizeram algumas interpretações equivocadas. No entanto, nada disso torna a EAE falsa.
Como dito acima: há pontos na EAE que devem ser corrigidas. Ademais, é óbvio que é imperioso aos ricos ajudar os pobres, isso vemos na parábola do pobre Lázaro e o rico epulão (Lucas 16, 19-31), em um discurso escatológico do Nosso Senhor Jesus Cristo em que Ele se coloca no lugar dos pobres dizendo “tive sede e não deste de beber etc” (Mateus 25, 35-45), com São Tiago dizendo que quem pode fazer o bem e não faz peca (Tiago 4, 17) e outras. No entanto, também temos passagens fortes contra os vagabundos como lemos:
“Em realidade, vós mesmos sabeis como deveis imitar-nos, pois que não vivemos preguiçosos entre vós, nem comemos de graça o pão de ninguém, mas com trabalho e fadiga, trabalhando de noite e de dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos direito a isso, mas para vos dar em nós mesmos um modelo a imitar. Desta sorte, quando ainda estávamos convosco, vos declarávamos que, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Ouvimos dizer que alguns entre vós são preguiçosos, nada fazendo, mas ocupando-se em coisas vãs; a estes, pois, que assim procedem, ordenamos e rogamos no Senhor Jesus Cristo que, trabalhando pacificamente, comam o pão assim ganhado.”
(II Tessalonicenses 3, 7-12)
Assim, não devemos ignorar essa realidade: há os que passam necessidade real e sem culpa a qual todos temos a imperiosa obrigação de ajudar, incluindo os capitalistas. Assim, segundo os princípios da justiça distributiva, os necessitados podem até se apoderar daquilo que tem necessidade dos outros (S.Th. II-II, q. 66, a. 7)*. Mas também há os vagabundos que optam por não trabalhar e assim não merecem nada. Esclarecidas essas normas, podemos estudar alguns dos axiomas que compõem essencialmente a EAE.
*. Não podemos aqui crer que isso é licença para o furto segundo o próprio juízo, mas segundo a necessidade imperiosa e real de se alimentar ou alimentar os familiares famintos a ponto de morte. Santo Tomás não ensina que é, por exemplo, roubar um aparelho de TV de um caminhão tombado só porque não tem em casa. O caso aqui é realmente questão de sobrevivência.
ALGUNS DOS AXIOMAS DA ESCOLA AUSTRÍACA DE ECONOMIA
Para saber qual seria o papel real do Estado (enquanto sinônimo de poder temporal exercido pela legítima autoridade), devemos conhecer como funciona a economia. A política e a economia devem ter por chão a ética. A ética é o princípio que deve nortear a práxis da economia e a política. No entanto, o conhecimento dos fenômenos econômicos são per se amorais. Não são amorais porque determinado economista está indiferente com a ética (alguns podem até estar), mas porque a ética não é necessária para conhecer ou especular sobre esses fenômenos assim como a moral não é necessária para conhecer axiomas de engenharia. No entanto a moral é necessária na aplicação desses axiomas. Seria como conhecer uma faca: o conhecimento especulativo da faca em si mesmo é amoral, mas o seu uso é moral (cortar alimentos) ou imoral (esfaquear alguém). Os princípios da EAE são a mesma coisa. Podem ser aplicadas moral ou imoralmente. A intenção aqui agora é expor os principais axiomas da EAE e mostrar por que esses axiomas são mais realistas que de todas as outras escolas que podem ser resumidas na Escola Neoclássica (ENC).
A economia é uma ciência mais humana que exata: algumas palavras sobre a praxeologia
Jesús Huerta de Soto nos ensina que a ciência econômica é antes da ação que da decisão (A Escola Austríaca — Mercado e criatividade empresarial, Instituto Ludwig von Mises, 2ª edição, pp. 17-18). E ele explica bem isso:
“… o importante para os austríacos não é que se tenha tomado uma decisão, mas sim que a mesma é levada a cabo sob a forma de uma ação humana ao longo de cujo processo (que eventualmente pode chegar ou não a concluir-se) se produzem uma série de interações e atos de coordenação cujo estudo constitui, para os austríacos, o objeto de investigação da ciência Econômica. Por isso, para a Escola Austríaca, a ciência Econômica, longe de ser um conjunto de teorias sobre escolha ou decisão, é um corpus teórico que trata dos processos de interação social, que poderão ser mais ou menos coordenados, dependendo da capacidade demonstrada no exercício da ação empresarial por parte dos agentes implicados.”
(p. 17)
Aqui entra a praxeologia de Ludwig von Mises, que ataquei injustamente. Mises erra feio na antropologia, mas não erra o cerne do ponto sobre a ação humana. Mises escreve:
“Toda decisão humana representa uma escolha. Ao fazer sua escolha, o homem escolhe não apenas entre diversos bens materiais e serviços. Todos os valores humanos são oferecidos para opção. Todos os fins e todos os meios, tanto os resultados materiais como os ideais, o sublime e o básico, o nobre e o ignóbil são ordenados numa sequência e submetidos a uma decisão que escolhe um e rejeita outro.”
(Ação Humana, Instituto Ludwig von Mises, 2010, p. 23)
Ainda:
“Ação humana é comportamento propositado. Também podemos dizer: ação é a vontade posta em funcionamento, transformada em força motriz; é procurar alcançar fins e objetivos; é a significativa resposta do ego aos estímulos e às condições do seu meio ambiente; é o ajustamento consciente ao estado do universo que lhe determina a vida.”
(p. 35)
Nada disso contradiz o que Santo Tomás de Aquino, fora a ausência da palavra bem. O homem age para um fim, convém que seja assim (S.Th. II-II, q. 1, a.1). Noutro lugar ainda:
“É manifesto que todo agente age por um fim, porque cada agente tende a algo determinado. Mas aquilo a que o agente tende determinadamente deve ser-lhe conveniente, pois que não tenderia a ele senão por alguma conveniência a isso mesmo. Mas o que é conveniente a algo é-lhe bom. Por conseguinte, todo agente obra por um bem.”
(Suma Contra os Gentios, lib. III, cap. 3)
Alguns ainda podem objetar com o naturalismo de Mises. De fato, se lermos alguns pontos, realmente parece ir de encontro com o que Santo Tomás ensina:
“O agente homem está ansioso para substituir uma situação menos satisfatória, por outra mais satisfatória. Sua mente imagina situações que lhe são mais propícias, e sua ação procura realizar esta situação desejada. O incentivo que impele o homem à ação é sempre algum desconforto. Um homem perfeitamente satisfeito com a sua situação não teria incentivo para mudar as coisas. Não teria nem aspirações nem desejos; seria perfeitamente feliz. Não agiria; viveria simplesmente livre de preocupações.”
(Loc.cit., p. 37-38)
Mises ainda parece classificar bebês como não humanos, pois coloca o seu agir como a essência da humanidade:
“O homem é um ser que vive submetido a essas condições. É não apenas homo sapiens, mas também homo agens. Seres humanos que, por nascimento ou por defeitos adquiridos, são irremediavelmente incapazes de qualquer ação (no estrito senso do termo e não apenas no senso legal), praticamente não são humanos. embora as leis e a biologia os considerem homens, faltam-lhes a característica essencial do homem. A criança recém-nascida também não é um ser agente. Ainda não percorreu o caminho desde a concepção até o pleno desenvolvimento de suas capacidades. Mas, ao final desta evolução, torna-se um ser agente.”
(idem, p. 38)
Analisemos a primeira citação: Mises é agnóstico e provavelmente não acreditava em algo transcendente. Mises, como kantiano, reconhece o homem apenas como um fim em si mesmo e não como animal racional com um fim último transcendente. Mas dentro da pura natureza, não é errado dizer que o homem ao agir busca uma situação mais satisfatória porque o que deve satisfazer é necessariamente um bem.
Quanto à segunda citação, Mises não erra na sua praxeologia em si, mas na antropologia. Considerar que o fato de ser agente é essencial no homem é erro metafísico grave, mas nada tem a ver com economia, pois ainda que os atos econômicos decorram da natureza humana enquanto ser racional e agente, não é papel da economia definir se a essência do homem é ser racional, ponto, ou se é racional e agente também. Mises errou na definição da essência humana, mas não errou na descrição da ação humana. Podemos dizer sim que a descrição de Mises da ação humana está incompleta ou mesmo imprópria (não pela matéria em si, mas pela terminologia kantiana que infelizmente permeia todo a sua obra), mas não está errada.
O individualismo metodológico não é atomista como o individualismo liberal
Isso se prova pelo que próprio Mises, ironicamente um autodeclarado “liberal radical”:
“O homem verdadeiro é, necessariamente, sempre um membro de um conjunto social. É até mesmo impossível imaginar a existência de um homem separado do resto da humanidade, dissociado da sociedade.”
(Idem, p. 69)
Apesar de depois escrever algumas bobagens evolucionistas e influído pela modernidade filosófica, Mises mostra diversos lapsos de lucidez que ilumina o nosso estudo. Noutro parágrafo, Mises refuta a ideia atomista que geralmente é visível mais entre os randianos (mal chamados “objetivistas”) e entre anarquistas individualistas (não necessariamente entre os anarcocapitalistas):
“Não se contesta que, na esfera da ação humana, as entidades sociais têm existência real. Ninguém se atreveria a negar que nações estados, municipalidades, partidos, comunidades religiosas são fatores reais determinantes do curso dos eventos humanos. O individualismo metodológico longe de contestar o significado desses conjuntos coletivos, considera como uma de suas principais tarefas descrever e analisar o seu surgimento e o seu desaparecimento, as mudanças em suas estruturas e em seu funcionamento. E escolhe o único método capaz de resolver este problema satisfatoriamente. inicialmente, devemos dar-nos conta de que todas as ações são realizadas por indivíduos.”
(Idem, p. 70)
O individualismo metodológico é o método que nos diz que todos as ações são deliberações individuais. Ainda que um grupo aja em conjunto, esse agir só se dá em razão de um conjunto de atos individuais daqueles que compõem o grupo. Uma música executada por uma orquestra só é realmente executada porque cada indivíduo que compõe a orquestra resolveu tocar. Negar isso é ir contra a razão.
O subjetivismo austríaco não tem nada a ver com o subjetivismo filosófico
Jesús Huerta de Soto escreve que, para os austríacos, “as restrições em economia não são impostas por fenômenos objetivos ou fatores materiais do mundo exterior (por exemplo, as reservas de petróleo), mas antes pelo conhecimento humano de tipo empresarial (a descoberta de um carburador que conseguisse duplicar a eficiência dos motores de explosão teria o mesmo efeito econômico que uma duplicação do total de reservas físicas de petróleo)” (loc. cit., p. 19). Ainda:
“Outro elemento essencial da metodologia da Escola Austríaca é a sua concepção subjetiva dos custos. Muitos autores consideram que esta ideia pode ser incorporada sem grande dificuldade dentro do paradigma neoclássico dominante. No entanto, os teóricos neoclássicos apenas incorporam de forma retórica o caráter subjetivo dos custos acabando por incorporá-lo de formar objetivada nos seus modelos, ainda que mencionem a importância do conceito de ‘custo de oportunidade’. Para os austríacos, custo é o valor subjetivo que o agente atribui aos fins aos quais renuncia quando decide empreender um determinado curso de ação. Ou seja, não existem custos objetivos, uma vez que os mesmos estão continuamente sendo descobertos em cada circunstância através da perspicácia empresarial de cada agente. Com efeito, podem passar despercebidas muitas possibilidades alternativas que, uma vez descobertas empresarialmente, alterariam radicalmente a concepção subjetiva dos custos por parte do agente em causa. Não existem, portanto, custos objetivos que tendam a determinar o valor dos fins, sendo que na realidade sucede precisamente o contrário: os custos como valores subjetivos são assumidos (e, portanto, são determinados) em função do valor subjetivo que os fins desejados (bens finais de consumo) têm para o agente. Por isso, para os economistas austríacos, são os preços dos bens finais de consumo, como materialização no mercado das avaliações subjetivas, que determinam os custos nos quais se está disposto a incorrer para produzi-los, e não o contrário como tão frequentemente dão a entender os economistas neoclássicos nos seus modelos.”
(Idem, p. 24)
Aqui faço uma correção quanto aos pontos grifados. Não que não existam custos objetivos absolutamente falando. Tal afirmação pode levar a equívocos graves que podem ser catastróficos no âmbito econômico. Existem sim custos objetivos, mas que são desconhecidos pelo agente. O que podemos dizer é que a concepção de custo do agente que é subjetiva. A subjetividade dos custos sempre se dá em razão da subjetividade do valor atribuído pelo agente. E é claro que o valor também não é simpliciter subjetivo, mas sim também segundo o valor concebido pelo agente. A absolutização da subjetividade dos custos e do valor na Escola Austríaca é errônea por esse aspecto, mas não é de todo errada, razão por que as ações do agente no mercado sempre se dão em razão do valor subjetivo ele atribui ao fim que ele almeja. Assim, não negamos que há algo de objetivo nos custos e no valor, mas como isso se dará no mercado dependerá da subjetividade dos agentes.
Assim, quando alguém paga uma fortuna por um livro antigo em detrimento com uma edição nova do mesmo título, é porque a pessoa considerou a utilidade marginal desse livro. Muitos das pessoas interessadas no título em si prefeririam a edição nova por sua leitura mais acessível, porque daria menos trabalho e o preço baixo (seria o meu caso, pois sou pobre e quero um livro barato para poder grifar e rabiscar anotações nos espaços em branco). A pessoa que pagou mais caro pela edição antiga levou em consideração a utilidade marginal, que é subjetiva. Essa pessoa poderia ser um intelectual que prefere ler a linguagem original do autor, ou pode ser que nem sequer leia e seja um simples colecionador. Não o sabemos, mas ele sabe.
Assim, poderíamos considerar que há a alta utilidade marginal e baixa utilidade marginal. A alta utilidade marginal para os que compram é a leitura na linguagem original do autor e coleção, seja por razões estéticas por tradição ou exclusividade. Esses pontos são prioritários. Para esses colecionadores, a baixa utilidade marginal é o conteúdo e a acessibilidade da linguagem. A baixa utilidade marginal é algo sempre secundário para o agente. Para quem prefere as edições novas, a alta utilidade marginal é a acessibilidade da linguagem adaptada ou a tradução para a língua vernacular na nova edição ou o baixo custo. O que é considerado na edição antiga e cara para quem prefere a edição nova é a baixa utilidade marginal. Assim, a utilidade marginal depende da relação que se dá entre o bem e o agente.
Os neoclássicos, por seu lado, já creem que os custos e o valor são necessariamente objetivos e isso leva a erros ainda mais catastróficos. Isso porque leva o governo a tomar atitudes tirânicas como fortes tributações, controle e tabelamento de preços, aumento da burocracia, protecionismo etc. A concepção do custo e valor objetivos é desastrosa e inevitavelmente leva a um Estado gigante e mesmo tirania. Infelizmente, com medo do termo, muitos tomistas caem nesse erro da ENC.
Assim, fica claro que o subjetivismo austríaco não tem nada de semelhante com o subjetivismo filosófico que considera a realidade algo dependente do sujeito, como se vê na modernidade filosófica. Um tomista pode, sem renunciar os seus princípios filosóficos, aceitar as premissas do subjetivismo austríacos com algumas correções e adaptações terminológicas.
A incerteza contra a racionalização
O valor objetivo, como lemos acima, leva a medidas governamentais extremas ou no mínimo que causam distorções no mercado. Se o valor é objetivo, também leva a uma racionalização no mercado. A economia funcionaria de forma mecânica (a visão mecanicista é uma característica própria dos neoclássicos) e assim tudo seria previsível. Para a ENC, os burocratas conheceriam a situação econômica melhor que os empreendedores, que vivem praticamente dentro das ações do mercado, ainda que geralmente restrito ao campo deles.
Se há incerteza, há possibilidade de erros empresariais puros, como ensina novamente o nosso autor referenciado Huerta de Soto:
“Para os austríacos, é possível que se cometam erros empresariais ‘puros’ sempre que uma oportunidade de lucro permanece no mercado sem ser descoberta pelos empresários. É precisamente a existência deste tipo de erros que permite, quando o mesmo é descoberto e eliminado, o ‘lucro empresarial puro’.”
(Idem, p. 20)
E ainda vale a pena citar in extenso Ludwig von Mises:
“Os empresários e os capitalistas só colocarão em risco o seu próprio bem-estar material, se estiverem plenamente convencidos da consistência de seus planos. Jamais arriscariam o seu patrimônio só porque um especialista assim os aconselhou. Os tolos que aplicam recursos nas bolsas de valores ou de mercadorias, seguindo informações confidenciais, estão fadados a perder o seu dinheiro, qualquer que seja a fonte de sua ‘informação’.
“Na realidade, qualquer empresário judicioso tem plena consciência da incerteza do futuro. Tem consciência de que o economista, no máximo, pode elaborar uma interpretação dos dados estatísticos do passado, mas não uma informação segura sobre o que irá ocorrer no futuro. Para o capitalista e para o empresário, as opiniões dos economistas sobre o futuro valem apenas como conjecturas discutíveis. São céticos e não se deixam enganar facilmente. mas, como consideram importante e útil conhecer todas as informações de relevância para os seus negócios, interessam-se por jornais e revistas especializados em prognósticos econômicos. Com a preocupação de estar a par de todas as informações disponíveis, as grandes empresas empregam equipes de economistas e estatísticos.
“As previsões econômicas não podem fazer desaparecer a incerteza do futuro e nem destituir a atividade empresarial de seu caráter intrinsecamente especulativo. Mesmo assim, podem prestar alguns serviços, uma vez que reúnem e interpretam dados disponíveis sobre as tendências econômicas e sobre a evolução econômica do passado recente.”
(Loc. cit., p. 986)
A própria mais-valia é refutada por essa incerteza. A incerteza torna os bens futuros menos valiosos que os bens presentes, dada a preferência temporal dos agentes. Leiamos o austríaco Eugen von Böhm-Bawerk:
“Quero agora acrescentar em que ponto ela [teoria da mais-valia] não tem razão. Primeiramente, no fato de explicar o juro exclusivamente a partir da compra barata do trabalho. O juro deriva tanto da compra barata dos usos da terra quanto da compra barata do trabalho. Sem dúvida, do ponto de vista quantitativo pesa muito mais o ganho na compra de trabalho. Quanto ao ganho que se obtém na compra ‘barata’ dos produtos intermediários, não preciso mencioná-lo, porque ele pode ser reduzido ao ganho na compra das forças produtivas originárias.
“Além disso, como já observei anteriormente, a compra não é tão barata quanto parece, pois o objeto comprado é medido em termos de bens futuros, que valem menos, ao passo que o preço é medido em bens presentes, que têm seu valor pleno.
“Finalmente, o preço relativamente baixo da mão de obra não é exclusivamente o resultado da exploração, com a qual os trabalhadores, devido à sua necessidade, são obrigados a concordar; ele também correria em algum grau, se bem que provavelmente menor, mesmo sem nenhuma coação aos trabalhadores, no caso de a propriedade ser distribuída de modo quase inteiramente igual entre todos. [N.d.T.: O que é evidentemente impossível.]”
(Teoria Positiva do Capital, Nova Cultural, 1988, pp. 573-574)
A mais-valia assim é absolutamente falsa porque (1) nega o valor subjetivo, (2) desconsidera a utilidade marginal do tempo e (3) desconsidera a própria incerteza. Todo salário é um adiantamento e pago num momento de incerteza do lucro por parte do capitalista. O lucro é um direito do capitalista pela sua espera, enquanto o trabalhador tem a vantagem de receber as vantagens do trabalho mais cedo. Essa vantagem parte da preferência temporal que Huerta de Soto ensina brilhantemente:
“Esta lei da preferência temporal não é senão outra forma de expressar o princípio essencial segundo o qual todo o ator [ou agente], no processo da própria ação, pretende alcançar os fins o mais cedo possível, estando separado dos mesmos por uma série de etapas intermediárias que encerram um determinado período de tempo. A preferência temporal não é, portanto, uma categoria psicológica ou fisiológica, mas uma exigência da estrutura lógica da ação que se encontra na mente de todo o ser humano. Isto é, a ação humana é orientada para determinados objetivos e seleciona meios para os alcançar. O objetivo é aquilo que se pretende alcançar ou a meta de toda a ação e, na ação, o que separa o ator da meta é o tempo. Por isso, quanto mais perto da meta estiver o ator, mais próximo estará de alcançar os objetivos que, para ele, têm valor.”
(Moeda, Crédito Bancário e Ciclos Econômicos, Instituto Ludwig von Mises, 1ª edição, p. 248)
A preferência temporal, assim, podemos entender como algo decorrente da própria mancha do pecado original. Os capitalistas parecem ter alguma virtude natural que ajuda a superar essas expectativas, pois eles têm a paciência de esperar, vencendo a incerteza, o lucro.
A natureza do lucro, da poupança e do prejuízo
O lucro, para os austríacos, em um sentido amplo é “o ganho decorrente da ação; o aumento de satisfação (redução de desconforto) obtido; é a diferença entre o maior valor atribuído ao resultado obtido e o menor valor atribuído aos sacrifícios feitos para obtê-lo; em outras palavras, é rendimento menos custo” (LUDWIG VON MISES, Ação Humana, p. 349). Ele pode ser psíquico quando não se trata apenas de um fenômeno monetário. Enquanto fenômeno puramente monetário, o lucro é “um excedente do montante recebido sobre o despendido, enquanto que a perda, como um excedente do montante despendido sobre o recebido” (idem). Assim, não é preciso dizer que o prejuízo ou a perda é exatamente o oposto.
Assim, fica claro que é insensatez condenar o lucro pois ele é um direito do empreendedor pelo seu mérito de conseguir um excedente do montante daquilo que ele recebeu sobre o despendido. O lucro assim não tem um fim em si mesmo no mercado, apenas como algo imediato da ação humana. Ele serve como incentivo para as alocações do empreendedor.
A poupança tampouco é imoral, pois é uma medida prudencial. Escreve Mises sobre o assunto:
“No ponto de partida de todo progresso em direção a uma existência mais bem fornida está a poupança — o provisionamento de produtos que torna possível prolongar o período médio de tempo que decorre entre o início do processo de produção e a obtenção de um produto pronto para ser usado ou consumido. os produtos acumulados com esse objetivo são de duas naturezas: estágios intermediários no processo tecnológico, isto é, ferramentas e produtos quase acabados; ou bens prontos para consumo que permitam ao homem substituir um processo que absorva menos tempo por outro que absorva mais tempo, sem com isto sofrer necessidades no período de espera. Esses bens são chamados de bens de capital. Portanto, a poupança e a consequente acumulação de bens de capital estão na origem de qualquer tentativa do homem de melhorar suas condições de vida; são a base da civilização humana. Sem poupança e sem acumulação de capital não teria sido possível almejar fins não materiais.”
(Idem, p. 318)
Mises aqui apenas descreve o lucro. Não fala se deve ou não ser regrado. O incentivo ao lucro é útil para ajudar a atender as necessidades das pessoas como o próprio Mises ensina:
“Nós não estamos afirmando que o cálculo econômico capitalista garanta invariavelmente a melhor solução para alocação dos fatores de produção. Soluções perfeitas, para qualquer problema, estão fora do alcance dos homens mortais. O que o funcionamento do mercado não obstruído pela interferência da compulsão e coerção pode nos assegurar é apenas a melhor solução acessível à mente humana, considerando-se o atual estágio do conhecimento tecnológico e a capacidade intelectual dos homens mais sagazes da época. Quando um homem descobre uma discrepância entre o atual estado de produção e um estado melhor, e que seja realizável, a motivação pelo lucro o incita a se esforçar ao máximo para realizá-lo. O êxito na venda de seus produtos lhe mostrará em que medida estava certo ou errado nas suas previsões. O mercado todo dia testa de novo os empresários e elimina aqueles que não conseguem passar na prova, confiando a condução da atividade econômica aos que são mais capazes de atender as necessidades mais urgentes dos consumidores. Só nesse sentido é que se pode considerar a economia de mercado como um sistema de tentativa e erro.”
(Idem, pp. 802-803)
Mises não apenas enfatiza a superioridade do mercado sobre o Estado em atender as necessidades humanas como também a importância disso para se manter no mesmo mercado. Ele entende que isso é uma necessidade para empresa se manter no mercado. Podemos divergir dele, claro, talvez por negar a mancha do pecado original que pode inclinar o empresário para a avareza e assim não considerar o fato de oligarcas se aliarem ao mesmo Estado para se beneficiar e criar cartéis ou mesmo monopólios. Um Estado católico talvez resolvesse esse problema, mas que hoje é impossível. O fato é que Mises não concorda com a ideia da qual muitos acusam.
Creio que, apesar de não expor os idiomas, chegamos a uma conclusão.
CONCLUSÃO
Assim, fica claro que os axiomas austríacos não são contra a Doutrina Católica. Pelo contrário, nos dá uma luz para compreender a economia. Porém, a luz natural da razão que usamos para conhecer o que os austríacos ensinam, deve estar acompanhada da luz sobrenatural da fé.
A EAE não é anticatólica, ao contrário da ENC, que preconiza o roubo em massa, tirania e falsificação em massa de moedas. Ao contrário dos neoclássicos, os austríacos não creem que a arrogância fatal, nos dizeres de Hayek, salvará a economia de um país.
Não estou aqui para dizer que devemos ser austríacos. Nem quero canonizar os autores citados, mas quero acima de tudo reparar a injustiça que fiz há meses anatematizando injustamente — junto com Ferrara, Arribas Marín e outros — a talvez a única escola de pensamento econômico moderna que tem as soluções para os problemas econômicos modernos. Os neoclássicos, keynesianos, monetaristas etc, todos eles fracassaram (ou foram bem-sucedidos em proteger estados corruptos e oligarcas).
Talvez seja a hora de dar uma chance aos austríacos. No entanto, os autores devem ser lidos à luz sobrenatural da fé. Não para rechaçar a sua obra in toto, mas sim fazer como São Paulo recomendou: examinai tudo e abraçai o que for bom (I Tess. 5, 21). Lembrando que são livros de economia e não de teologia ou catequéticos. Infelizmente escreveram muitas bobagens, mas os seus acertos econômicos devem ser aproveitados e não são poucos.
E que Deus tenha misericórdia dessas almas.





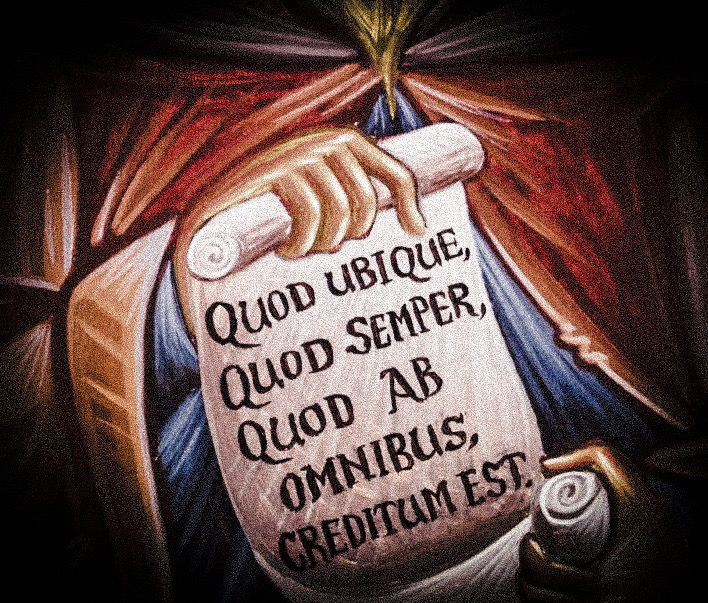




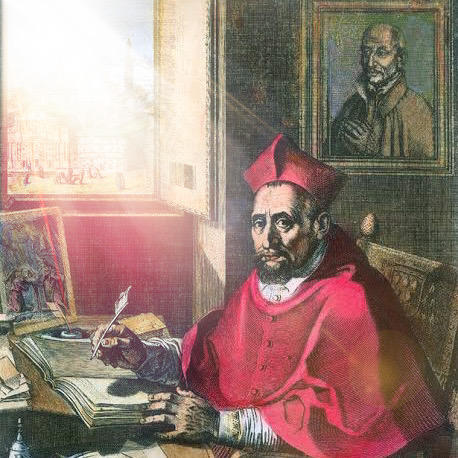
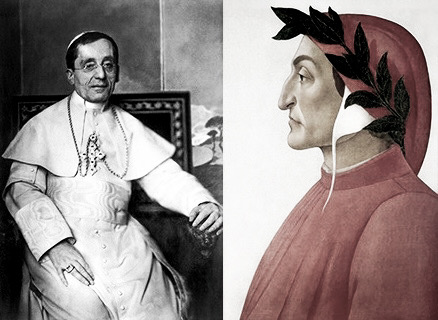

Deixe um comentário