Padre Álvaro Calderón, F.S.S.P.X.
Incluímos este artigo — escrito há uns anos, sendo Bento Papa, mas não chegou a ser publicado — como apêndice de nosso livro por vários motivos. Ainda que não trate de magistério, mas de escatologia, é exercício de magistério, e completamos a consideração dos Papas pós-conciliares: João Paulo II no apêndice terceiro, Bento neste apêndice quarto, e Francisco no epílogo. Mostramos também o parentesco de pensamento de todos estes Pontífices. E aclaramos, ademais, o que podemos esperar da bendita hermenêutica da continuidade.
Introdução
Depois de vinte anos de ensinar periodicamente a Escatologia, ao tempo em que era sagrado bispo, em 1977, Joseph Ratzinger publicava sua “Escatologia. A morte e a vida eterna”, como contribuição ao Curso de Teologia Dogmática de Johann Auer. “A escatologia é junto com a eclesiologia o tratado que mais vezes expus e o primeiro que me atrevo a oferecer ao público” (Prólogo). Vinte anos depois, em 1997, dizia em suas recordações: “Sempre considerei [a escatologia para a dogmática de Auer] minha obra mais elaborada e cuidada” (1). E dez anos depois, em 2007, teríamos uma nova reedição, desta vez com um Prefácio do agora Papa Bento XVI. Por que nos interessa?
Nesta obra, aquele que como Papa promoveria a interpretação do Concílio em continuidade com a tradição, aplicava e explicava como teólogo esta mesma “hermenêutica da continuidade” no campo mais restrito da escatologia. Como o assunto considerado é muito menos amplo e mais conhecido que os que o Concílio tratou o clássico tratado de escatologia — , e o método de exposição é mais preciso — teológico e não “pastoral” como nos documentos conciliares, torna-se-nos mais fácil compreender que maneira de continuidade entende o Papa se dá entre a novidade conciliar e a tradição católica.
No Prólogo à primeira edição, o autor confessa ter sofrido uma transformação ao longo de seus anos de ensinamento. “Ousei”, diz ali, “começar com as teses, ainda raras então [uns anos antes do Concílio], que acabaram por impor-se hoje quase sem exceção no campo católico. Ou seja, o que tentei foi elaborar uma escatologia desplatonizada”. Uma escatologia se desplatoniza quando evita a distinção entre corpo e alma no homem, considerada dualismo platônico. Mas, acrescenta, a reflexão posterior levou-o a reconhecer “a lógica interna da tradição eclesiástica”, que fala da permanência da alma depois da morte, passando a defender então em seu tratado a existência da alma. “Hoje”, reconhece, “estou enfrentado a opinião geral, mas no sentido inverso a como o estava em minhas primeiras tentativas”.
O que o levou a passar de uma posição de ruptura teológica a uma de certa continuidade com a tradição? A causa de sua mudança foi a posição conciliar, com a qual se identificou como “perito” em corpo e alma. O Concílio Vaticano II creu certamente construir uma ponte sobre o abismo que separava a tradição católica da modernidade. O estudo dos documentos e do pensamento conciliar leva-nos a reconhecer que a verdadeira hermenêutica de seus textos não é a de choque, que predominou no período pós-conciliar, mas a de continuidade que nos volta a propor Bento XVI. Não é a interpretação pessoal dele, Joseph Ratzinger, mas a do Concílio, o que permite entender o que este quis fazer. Talvez por ter ido ao Concílio ainda jovem, ou por ter vivido até entrar no Seminário a fé de sempre numa piedosa família alemã, ou porque Roma subjuga com o peso vivo de sua história, ou por todas estas coisas, o teólogo voltou a suas aulas mais convencidos que seus pares de que não se pode romper completamente com a tradição católica. O texto de sua “Escatologia”, publicado quando nem bem começa ser bispo, demonstra-o.
Interessa-nos, então, entender o que implica a “hermenêutica da continuidade” no campo restrito da escatologia de Joseph Ratzinger, para que tenhamos uma ideia do que significa no amplíssimo campo do Concílio. Para isso consideraremos dois assuntos, a natureza desta continuidade e suas consequências. Quanto ao primeiro, assinalaremos a intenção de continuidade que anima o autor, o obstáculo que encontra e a solução que lhe dá. Quanto às consequências, assinalaremos três, uma que se segue das posições teológicas que enfrenta, outra das que sustenta e a terceira da doutrina permanece. Duas partes com três pontos que finalmente cada uma e uma conclusão.
A. Natureza da
hermenêutica da continuidade
I. A intenção de continuidade
Aos que vivemos na bolha da ultratradição, faz-se-nos impossível compreender o tradicionalismo do autor, razão por que nos pareceu necessário começar sublinhando a realidade de sua intenção de continuidade com a tradição da Igreja.
Joseph Ratzinger começa a ensinar o tratado de escatologia cinco anos antes do Concílio. “Há exatamente vinte anos”, diz no Prólogo à primeira edição, escrito em 1977, “que ensinei pela primeira vez a Escatologia no ciclo de minhas aulas”. Doze anos, então, segue ensinando-a depois. Durante o Concílio, dissemos, sofre uma conversão ao tradicionalismo, reorientando o rumo de suas reflexões. No começo havia embarcado na teologia “desplatonizada” (haveria que dizer melhor: “desescolastizada”) que florescia, contra Roma, entre os teólogos vanguardistas “do Reno”. Mas no Concílio tudo muda.
Não é exato dizer que no Vaticano II triunfou este grupo de vanguarda. Os “peritos” do Reno constituíram certamente a tropa de choque que rompeu os já frágeis muros da Cúria vaticana, mas o que realmente triunfou no Concílio foi o humanismo à romana, cuja mais preclara personagem foi Maritain. Aos que estão do outro lado e não sabem erguer o olhar, os Alpes tapam-lhes a importância de Roma, mas ao menos a experiência já havia demonstrado todos que aqueles que se entusiasmam com as ideias modernas e cortam todo vínculo com a tradição romana terminam no nada. Joseph Ratzinger foi um dos poucos de seu grupo que o compreenderam. A maioria prosseguiu com a intenção de ruptura do primeiro momento e, com o tempo, transformou-se em um grupo de amigos incômodos a quem se condecorou e se tentou deixar de lado (2).
Ao voltar a suas aulas, o nosso teólogo romaniza suas posições mas esbarra na incompreensão de seu entorno. “Hoje [1977] estou enfrentando a opinião geral”. Porque o progressismo, que havia pressionado para tornar possível o Concílio, desbordava-se nos anos seguintes sem compreender a moderação da verdadeira posição conciliar. O autor recorda-o no Prefácio que escreve trinta anos depois, sendo já Papa. “Quando se escreveu o livro, estavam-se produzindo duas transformações muito profundas no pensamento acerca do tema da esperança cristă.” A primeira é uma marxização. “A esperança adquiria assim índole política, e seu complemento parecia ter sido posto nas mãos do mesmo ser humano. Segundo se afirma, o reino de Deus, em torno do qual tudo está centrado no cristianismo, seria o reino do homem.” A segunda é a já mencionada desplatonização. “A crise relacionada com a tradição, que se fez virulenta na Igreja católica em seguida ao Vaticano II, levou a que, a partir de então, se quisesse construir a fé estritamente a partir da mesma Bíblia e fora da tradição. Nesse marco se constatou que a Bíblia não continha o conceito de imortalidade da alma, mas só a esperança na ressurreição. Portanto–assim se afirmava–havia que descartar a ‘imortalidade da alma’ como um produto do platonismo que se havia superposto à fé bíblica na ressurreição”.
A intenção principal da obra, por conseguinte, não é opor-se a nós, os tradicionalistas, mas opor-se a seus antigos companheiros de vanguarda, expondo uma escatologia em continuidade doutrinal com a tradição católica. “Assim, pois”, segue dizendo no Prefácio, “em minha Escatologia tive de enfrentar-me com ambas as teorias, ainda que sem esquecer por isso os temas de toda a tradição de fé, de esperança e de oração que se haviam desenvolvido ao longo da história da Igreja”. Estas não são palavras que reinterpretem sua intenção numa nova visão como Papa, senão que expressam a intenção evidente do texto mesmo. O grosso da obra — mais de 100 páginas num livro de 300 — consiste numa defesa agudamente ofensiva da imortalidade da alma. Daí se segue uma defesa da existência do Purgatório e da oração pelos fiéis defuntos. E dá-se lugar também para uma defesa geral da hermenêutica da continuidade, o que agora especialmente nos interessa.
II. O obstáculo à continuidade
1º As diferenças inerentes
ao método histórico?
Há, no entanto, um obstáculo para uma continuidade ingênua que o autor começa por destacar. Ao apresentar “A problemática” na Introdução, assinala como a visão da escatologia depende das circunstâncias históricas do cristianismo. No começo do século passado, a escatologia passou do último lugar nos tratados teológicos (Santo Tomás não chegou a tratá-la em sua Suma) a ocupar o centro. A nova ideia do Evangelho que então irrompeu sustentava que “toda a mensagem de Jesus havia sido escatológica, sua força avassaladora tinha consistido em que Jesus anunciou com autoridade o próximo fim do mundo, a irrupção do Reino de Deus” (p. 25). Esta mudança teria vindo “como consequência da crise histórica de nossa época” (p. 24). “A nova postura relaciona-se com a consciência do fundamento que acossa cada vez mais os espíritos desde o final do século XIX como poderia fazê-lo o pressentimento de um terremoto iminente de proporções mundiais” (p. 25). Então a teologia teria passado de um liberalismo otimista a um existencialismo realista. E até, posteriormente, “alcançou à teologia uma segunda corrente mais forte e de um realismo muito maior: o marxismo”, dando as teologias da libertação (p. 26).
Alguns denunciariam o esquecimento medieval do anúncio escatológico como ruptura com o cristianismo original. “Diz-se que no cristianismo oficial a mensagem escatológica se corrompeu profundamente, que a história da escatologia é uma história de apostasia” (p. 28). Mas, ainda que “me pareça inegável”, confessa o autor, “que, a partir da Idade Média tardia, se foi impondo cada vez mais um sentimento com respeito à vida segundo o qual o cristianismo se aferrou tanto a seu passado que perdeu o presente e o futuro” (p. 33), no entanto “seria equivocado falar de uma perda da escatologia na Idade Média ou de uma mudança radical de seu conteúdo” (p. 34).
A razão profunda pela qual a continuidade doutrinal não pode ser ingênua ao depender de modo tão complexo das circunstâncias históricas, isto é, o obstáculo à continuidade, explica-se no ponto seguinte, onde o autor expõe a “Metodologia” da reflexão teológica. “Nesta questão”, começa dizendo, “estão implicados dois diferentes níveis cuja confusão destrói continuamente todo o debate” (p. 40). O primeiro tem que ver “com um problema histórico, ou seja, com uma questão de exegese de textos”, e o segundo com “a questão de como transpô-lo para a atualidade” (p. 41). Para Joseph Ratzinger, o primeiro é ofício do exegeta ou historiador, “o historiador (neste caso o exegeta) interessa-se pela questão do então”, enquanto o segundo é ofício do teólogo propriamente dito. Pareceria corresponder mais ou menos (menos que mais) ao que se costumava chamar teologia positiva e especulativa, mas o autor considera teologia só a segunda função, chamando história à primeira.
Feita esta distinção, o autor faz então sua primeira observação metodológica. A exegese ideal teria de encontrar o que dizem verdadeiramente os textos graças ao método histórico. Mas “é claro que se deve conceder que o método histórico em sua representação ideal, o mero exame da realidade de então, é algo irrealizável com respeito a textos cujo conteúdo chega até o mais profundo das questões humanas fundamentais [como o são sobretudo os da Bíblia]. Os conceitos que empregam fazem que a bagagem de compreensões prévias que o exegeta já possui intervenha necessariamente, de tal maneira que este não pode entender absolutamente nada sem a ajuda de uma compreensão que lhe sirva de suporte e com a qual ponha na balança sua própria visão da realidade. Por exemplo, a questão quanto ao que quis dizer em verdade Jesus com a aproximação do reino exige que se saiba o que significa tanto ‘aproximação’ como ‘reino’. O conceito que disso se tenha não vai poder separar-se totalmente das aderências que a pessoa tenha. Ao historiador é de todo impossível decidir se o que Jesus disse a este respeito foi verdadeiro ou falso. O que o historiador busca é interpretar acertadamente os textos, mas o chegar à verdade como tal não se encontra ao alcance de seu método” (p. 42).
2º O obstáculo é o subjetivismo
Se ao exegeta “é de todo impossível” interpretar o que Jesus quis dizer ao falar do “reino”, malparados estamos! Que resta ao teólogo que deve transpô-lo à atualidade? Ademais, por que a leitura de uma obra que tenha alguns anos tem de ser oficio necessariamente de um historiador? O historiador pode dizer-nos quem foi Aristóteles ou Santo Agostinho e como chegaram a nossas mãos seus textos, dados convenientes, certamente, para entender melhor a obra, mas por que não se podem seguir seus pensamentos como filósofos ou teólogos?
Chamemos as coisas por seu nome. O obstáculo que Joseph Ratzinger encontra para a continuidade ingênua é seu subjetivismo, que ele padece junto com o pensamento moderno. O acesso à verdade objetiva dependeria de maneira necessária e indiscernível do sujeito que acede, porque a inteligência não seria capaz de abstrair as essências propriamente universais das coisas particulares. O pensamento não deixaria nunca de ser tão particular como o são os fatos históricos. A definição de homem dada por Aristóteles, animal racional, dependeria de como Aristóteles via os homens que tinha diante de si e que ideia fazia de si mesmo. Se lhe tivesse agradado mais comer que pensar, tê-lo-ia definido onívoro e não racional. É ridículo, mas muito grave. “A questão de se se toma como verdadeiro o que se diz sobre a proximidade do reino depende do que se entenda em definitivo por realidade. Depende do que um homem tenha por real e de sua mesma situação interna na realidade” (p. 42).
Ora, se não somos subjetivistas, podemos ter um verdadeiro diálogo atemporal com os pensadores de todos os tempos, o que ajuda não somente no progresso contínuo das ciências e da sabedoria, senão também oferece, nas que reflexões escritas de testemunhas inteligentes, apoios objetivos para a reconstrução dos mesmos fatos históricos, que certamente são particulares e difíceis de recriar. Mas o que se deixou prender pela névoa nefasta do subjetivismo, a que pode agarrar-se para encontrar ainda que mais não seja uma continuidade puramente histórica, se nem sequer pode estar seguro de interpretar bem o que lê no jornal do dia? “Esta ou aquela postura faz que o texto se ouça de modo totalmente diferente. O ouvido representa sempre também o mesmo ouvinte e não só o que este tem diante de si” (p. 43) (3).
III. A solução do autor
1º A melhora do método histórico
Em uma segunda observação de sua “Metodologia”, Joseph Ratzinger faz uma preparação de solução do obstáculo do subjetivismo. Seguindo a posição moderna, só reconhece a-historicidade (não digamos nunca universalidade) às ciências naturais com formalidade matemática. “Não se necessita, por exemplo, ser um pitagórico para compreender e aplicar uma doutrina pitagórica. Os resultados apagam seus pressupostos históricos e conformam todos a base segura de um saber sempre crescente em que a soma dos dados certos vá crescendo continuamente desde Pitágoras até Einstein… A história em que se configura o pensamento que seja não pertence ao núcleo do pensamento mesmo” (p. 44). Mas, quando não se trata de abstração matemática mas filosófica e teológica, já não se pode utilizar “este modelo a-histórico das ciências naturais”, porque “as medidas do espiritual são diferentes das do corporal. Considerar aquelas como aquisições desprovidas de história significa não ter ideia do que são. Quem quer que analise a exegese ao longo de um século se dará conta de que nela se reflete toda a história do mundo do espírito nessa época. Em seguida verá que o observador não tem outra possibilidade de falar do observado senão fazendo-o de si mesmo” (p. 44–45).
O autor é consciente de que o dito supõe um problema. “Isto não quer dizer, naturalmente, que aqui não se conheça, em definitivo, nada” (ainda que o restante de seu livro, como veremos, não considere tão naturalmente que não se termine nisto). Mas o conhecimento não é formulável, pois consiste num aprofundamento no ser. “O que ocorre é que este tipo de conhecimento é parecido — não igual, mas se pode comparar — ao conhecimento que se dá em filosofia. Seu ‘resultado’ histórico não é uma soma catalogável de fórmulas, mas uma série de adentramentos na profundidade do ser, segundo o permitem as possibilidades de uma época” (p. 45). O único método que, na exegese bíblica, “promete o encontro verdadeiro com o texto” é chegar a uma “purificação” fazendo uma autocrítica de toda a continuidade histórica da exegese desde o momento em que se escreveu o texto até o presente em que se vive. “Infelizmente, a autocrítica da razão histórica continua em cueiros” (p. 45).
2º Um subjetivismo comunitário
Nestas páginas não termina de explicar sua solução. Se o conhecimento é aprofundamento informulável do ser, o que evidentemente pertence à experiência espiritual, como podemos participar do conhecimento de Santo Tomás, por exemplo? Ademais, por que chamaautocrítica à crítica dos demais? Em razão de que, em definitivo, se pode falar de continuidade? Falta um esclarecimento que não se deu por óbvio. O conhecimento implica necessariamente o sujeito, porém o sujeito não é o indivíduo mas a comunidade, que não permanece somente os anos de uma vida.
O pressuposto da inserção numa comunidade aparece a todo momento. “Para sermos fiéis a este conteúdo, temos de mencionar que Jesus está situado com toda a sua mensagem numa tradição prévia tanto de linguagem como de pensamento e numa história de fé e de oração. O novo de Jesus consiste em como toma, desenvolve e transforma esta tradição” (p. 47). Mas vai ser explicitado no Anexo à 6ª edição de 2007.
Referindo-se ali a uma declaração da Congregação para a Doutrina da Fé, de 17 de maio de 1979, “sobre algumas questões de escatologia”, onde se insiste na existência e sobrevivência da alma, o autor faz uma apresentação mais geral do problema. “A Igreja de hoje encontra-se diante de duas necessidades”, a de “manter fidelidade às verdades fundamentais da fé” e a de “interpretação” das fórmulas de fé para que seu conteúdo “venha a ser comunicável também na atualidade” (p. 281). Evidentemente, “interpretação e fidelidade podem entrar em certa tensão entre si”, porque não se trataria de uma fidelidade ingênua às antigas fórmulas de fé, “a insistência na fidelidade não representa uma negativa à interpretação, não é um convite a uma ‘reiteração estéril de fórmulas’” (p. 282), senão que se trata de ser fiel a conteúdos informuláveis de fé.
Mas há fórmulas que não são estéreis. As “verdades fundamentais da fé” têm conexão com a fórmula do Símbolo batismal ou Credo. Não haveria que entendê-lo como coleção de proposições doutrinais, mas como uma fórmula de oração comunitária. “A condição de membros da Igreja realiza-se concretamente na oração comunitária da profissão de fé” (p. 283). Negar um artigo do Credo não implica negar uma verdade doutrinal particular, mas o desacoplar-se da expressão comunitária da fé que tem unidade de conteúdo: “Se já não posso rezar com uma atitude inferior afirmativa o Credo ou algumas de suas partes, vê-se afetado o mesmo conteúdo da fé, o mesmo pertencimento à comunidade de oração e de profissão de fé da Igreja. A profissão de fé, que desse modo é colocada no centro, não é por sua vez uma coleção de proposições, mas (como também o indica a declaração romana) uma estrutura em que se expressa a ‘coerência’ interna, a unidade do que se crê como uma totalidade única. Desse modo, não se podem riscar certas partes sem destruir o conjunto” (p. 283).
Isto manifesta que as fórmulas da linguagem não deixam de ter sua importância para a “comunicabilidade das ideias”. Daí que, para manter a fidelidade, seja necessário “dar (importância) também à continuidade sincrônica e diacrônica (4) da linguagem e à relação entre a linguagem da oração (que na Igreja é essencialmente diacrónica e, assim, ‘católica’) e a linguagem da teologia” (p. 284). “A teologia, como ciência, necessita de linguagem especializada; enquanto interpretação, tentará traduzir sempre de novo os conteúdos de seu objeto de investigação”, mas deve respeitar sempre a linguagem fundamental que transmite as verdades fundamentais da fé, a qual não pode ser especializada porque “pertence a todos os fiéis” e “só pode seguir desenvolvendo-se comunitariamente na serena continuidade da Igreja orante e não pode suportar descontinuidades abruptas” (p. 284). Portanto, como a linguagem ingênua dos fiéis vinha utilizando a palavra “alma”, a linguagem especializada dos teólogos não pode contrariá-la abruptamente. “A palavra ‘alma’ — diz a declaração romana — como portadora de um aspecto fundamental da esperança cristã conta-se aqui como parte da linguagem fundamental da fé ancorada na oração da Igreja, a qual é imprescindível para a comunhão na realidade que é objeto da fé e que, por isso, tampouco está simplesmente à disposição dos teólogos” (p. 285).
O objeto da fé, então, mantém-se idêntico ao longo do tempo, apesar do contínuo desenvolvimento das fórmulas da linguagem, não porque as palavras signifiquem essências universais permanentes, mas graças à permanência do sujeito crente que é a Igreja. “Até então [até Lutero], a linguagem da esperança havia crescido na comunidade da fé, que em sua unidade diacrônica havia garantido ao mesmo tempo a identidade do objeto de nossa fé no processo do paulatino desenvolvimento das palavras e na formação de uma visão integral da realidade em que se baseia a fé: desenvolvimento e identidade não eram polos contrapostos porque o sujeito comum da Igreja os mantinha unidos” (p. 287). Daí que para chegar ao “encontro com o texto”, quer dizer, a perceber o aprofundamento no ser que se tinha ao escrevê-lo, se faça necessária — como se disse na “Metodologia” — a “autocrítica da razão histórica”, que seria uma maneira de psicanálise da Igreja como sujeito histórico, de que o exegeta faz parte, pelo qual se remonta à experiência inicial, distinguindo os matizes e as mudanças que foi sofrendo no transcurso da vida.
3º A hermenêutica da continuidade
O subjetivismo do autor faz-se tradicionalista, portanto, enquanto exige a continuidade diacrônica, que pede respeito à linguagem simples da oração comunitária. “[Há que ter] a coragem de sair com mais confiança ao encontro das teorias por mais modernas que sejam, sabendo situá-las historicamente no marco de uma autocrítica da razão histórica e interpretando-as no conjunto de um movimento histórico” (p. 81). Daí que defenda a permanência do Ordo litúrgico anterior ante uma reforma levada a efeito com o entusiasmo de ruptura dos primeiros anos do pós-concílio, contrário ao verdadeiro espírito conciliar (5).
Mas não deixa de ser progressista enquanto exige também a continuidade sincrônica, que pede diálogo na linguagem especializada dos teólogos, buscando a atual interpretação também comunitária do Evangelho. No último ponto do Anexo, e do livro, assinala as “Linhas fundamentais para um novo consenso”. Aceita as dificuldades em que seu tradicionalismo o põe. “Sem dúvida, um teólogo que defenda hoje em dia no sentido da tradição cristã a existência e a imortalidade da alma encontrará oposição de muitos lados” (p. 298).
Não deixa de denunciar os excessos dos “rupturistas”, que ele reduz a dois. Ao primeiro poderíamos chamá-lo, seguindo o autor (cf. nota 20), “arqueologismo”: “Vimos a ruptura da continuidade da tradição como problema fundamental no fundo da revolução produzida em alguns temas teológicos particulares: a história já não é presença transmitida de forma confiável através do continuum da tradição, senão que deve ser reencontrada a partir do passado por um processo de reconstrução realizado segundo o método histórico”. E ao segundo excesso chamaríamos nós “desescolastização”: “E agora se mostra como segundo aspecto da crise a perda da segurança na relação entre fé e razão. Assim como o método histórico pretende destilar até a pureza o passado e fixá-lo em sua figura primigênia, assim o teológico deve ser libertado dos agregados filosóficos. A desconfiança da razão histórica com respeito à razão filosófica desempenha aqui o papel decisivo” (p. 299). Que pode restar da doutrina católica quando se quer regressar ao primeiro momento da Revelação com os prejuízos do cepticismo moderno, que acusa de racionalismo o uso que a Escolástica fez da razão?
Mas o benévolo autor está cheio de confiança “na história do espírito” (6). Se pede que não se pretenda reconstruir pela “razão histórica” o que se pensou anteontem desprezando o ontem: “A relação com Cristo não surge das reconstruções da razão histórica, mas pela potestade da história comunitária de fé, quer dizer, na Igreja” (p. 303), ele mesmo não pretenderá ficar com o ontem sem levar em conta o hoje. Pode ver-se hoje enfrentando a opinião geral, mas não será um enfrentamento de exclusão, mas de diálogo respeitoso e atento, porque o autor é parte da comunidade de fé, a única que garante a continuidade de sua vida a permanência do objeto da fé, que não é doutrina, mas presença do Ser ante a Igreja. “A linguagem da fé que cresceu na comunidade de fé é uma realidade viva que não pode substituir-se arbitrariamente. Só quem pode falar em comunidade pode viver também em comunidade” (p. 303, últimas palavras da obra).
4º Breve análise crítica
Entre a posição subjetivista do autor e a que até o Concílio o magistério da Igreja sustentou há uma grande diferença. Os dois estão de acordo quanto ao sujeito da fé, que é a Igreja; mas diferem quanto ao objeto. Porque o subjetivismo moderno nega e o magistério da Igreja afirma, junto com a sá inteligência, que há conceitos propriamente universais, isto é, verdadeiros em si mesmos de maneira independente do hic et nunc, da geografia e da história, de sincronismos e de diacronismos (7). Em consequência, a Igreja afirma e o subjetivismo nega que a Revelação contém um núcleo de doutrina universal, que foi sendo definido progressivamente pelo magistério, e que é regra objetiva imediata e permanente da fé dos crentes.
Portanto, o teólogo católico — católico significa justamente universal — julga das opiniões teológicas à luz deste núcleo perene de doutrina definida, declarando heterodoxo e fora da comunhão a quem não aceita a autoridade objetiva deste magistério. Mas para o teólogo subjetivista — antiuniversal — esta pretensão detém a vida da Igreja, pois toda formulação dogmática dependeria do momento histórico e deve ser continuamente reinterpretada para permanecer válida. Joseph Ratzinger, então, pode entrar no diálogo com arqueologistas e desescolastizantes, mas não com tradicionalistas fossilizados. “Só falar quem pode falar em comunidade pode viver em comunidade”. Como se vê, há excomunhão mútua de ambas as partes.
Muito bem. Mas até agora não fizemos mais que assinalar os pressupostos metodológicos da “hermenêutica da continuidade”. Passemos a ver seus resultados no campo da escatologia.
B. Consequências
desta hermenêutica
I. O respeito ao erro
A primeira consequência que salta aos olhos é o respeito ao erro, mesmo reconhecido como tal. A “Escatologia” de Joseph Ratzinger desenvolve-se numa constante discussão com os teólogos contemporâneos. Se tivéssemos nós — tradicionais “universalistas” — de escrever essa obra, buscaríamos apoiar-nos nos melhores tratados, sem nos importarmos com a data de edição. Mas, para o tradicionalismo subjetivista do autor, os únicos interlocutores válidos para o diálogo teológico são aqueles que pensam sem repetir o passado, pois se trata de “transpor para a atualidade” (p. 41) o que antes se creu. Ora, este “hoje” pós-conciliar é absolutamente modernista, porque não se publica outra coisa e porque todos aqueles que continuaram a estudar Santo Tomás o fazem sob formalidade histórica (“estudos medievais” e coisas do gênero), razão por que não contam no trabalho de transposição para a atualidade. O primeiro aspecto, portanto, do respeito ao erro que denunciamos é que os únicos teólogos habilitados para entrar em discussão não são os que sustentam a verdade de sempre, mas os que pensam tudo de novo, ainda que errados.
1º Tranquila advertência da gravidade dos erros
No campo da escatologia, como assinalamos mais acima, o autor reconhece que se enfrenta com dois erros, a marxização da esperança e a desplatonização da antropologia. Será sobretudo contra este último que dirigirá seus golpes. Ao começar a tratar a questão, a que dedica todo o capítulo segundo dos três que compõem a obra, assinala com razão a importância do problema da morte. “A morte converte-se na chave da questão do que é em definitivo o homem” (p. 91). Mas reconhece que a resposta atual a este problema não é nada satisfatória: “Se se interroga aos administradores profissionais da tradição no âmbito cristão, aos teólogos, deparamos com uma situação bastante deprimente, vista a tendência dominante” (p. 91).
Distingue duas tendências, uma má e outra pior. Na primeira “se encontra a antítese entre o pensamento bíblico e o grego, a qual imprimiu sua característica cada vez com mais força no fazer teológico a partir do século XVI”, quer dizer, por influência da teologia luterana. Segundo este esquema, “a interpretação grega da morte, influída decisivamente por Platão, é idealista e dualista” (p. 92), onde o espírito deveria libertar-se do cárcere da matéria, má em si mesma Ratzinger não esclarece que isso é uma grosseira caricatura do pensamento grego. No pensamento bíblico, “muito pelo contrário, tem-se em vista o homem em sua totalidade e unidade indivisível como criatura de Deus, na qual não se podem separar corpo e alma” (p. 93). Na morte o homem morre todo e só pode esperar recuperar-se com a ressureição. “A esperança bíblica só se pode expressar pelo termo ‘ressurreição’, que pressupõe a totalidade da morte. A ideia de imortalidade da alma se há de abolir sem contemplações” (p. 93). Na segunda tendência “se aceita de modo consequente e radical o ponto de vista saduceu arcaizante do Antigo Testamento, dizendo que este não conhece imortalidade nem ressureição” (p. 94). Se estas são as duas tendências dominantes, o mínimo que se pode dizer é que a situação é verdadeiramente deprimente.
Mas a tranquilidade com que o autor apresenta este desolador panorama não quer dizer que não compreenda as enormes consequências destas teses. Mais ainda, os parágrafos em que o futuro Papa assinala as incongruências destas posições com respeito à razão e, mais ainda, na ordem da fé chegam, por alguns momentos, a sair da névoa subjetivista e deixam brilhar certo realismo de senso comum. “Se não existe alma que valha, não havendo, portanto, nada que possa dormir, então o problema que se apresenta é este: quem é, na realidade, o que pode ser ressuscitado? Como se realiza a identidade entre o homem de antes e o que tem de voltar a criar-se indubitavelmente do nada?” (p. 126).
As teses do mistério pascal de morte-ressurreição pretendem salvar estas objeções pelo conceito de não tempo: a ressurreição dá-se no fim dos tempos, mas com a morte se sai do tempo, razão por que se entraria imediatamente no estado de ressureição final. Joseph Ratzinger reconhece as vantagens desta tese na explicação, por exemplo, do dogma da Assunção de Maria, que passaria a não ser mais que o destino de todo ser humano: “Se foi possível entender o dogma mariano como modelo do destino humano como tal [todo homem é ‘assunto’], esclarecem-se, ao mesmo tempo, dois problemas: por um lado, superou-se o escândalo causado pelo dogma no terreno ecumênico e intelectual [não há nenhum privilégio] e, por outro, ajudou a corrigir as opiniões correntes até então sobre a imortalidade e a ressurreição, aproximando-se de juízos mais conformes com a Bíblia e com a mentalidade moderna [não há alma]” (p. 127). “A ideia de que a ressurreição ocorre no momento da morte impôs-se a tal ponto que se recolhe também no Novo Catecismo para Adultos (‘Catecismo holandês’), ainda que dito com alguns rodeios: ‘Quer dizer que a vida depois da morte já é algo, assim como a ressurreição do novo corpo’. Ou seja, o que o dogma diz sobre Maria valia para qualquer pessoa. Por causa da atemporalidade que reina para além da morte, qualquer morte é entrar no novo céu e nova terra, adentrar na parusia e na ressurreição” (p. 128).
O autor não manifesta se aprova ou desaprova a possibilidade de transpor um privilégio mariano para lei geral, mas apresenta uma boa objeção com respeito à “corporeidade”. “Tais ideias podem ser tão profundas quanto se queira, mas perguntamo-nos com que direito se pode seguir falando de ‘corporeidade’ se se nega expressamente toda relação com a matéria e sua participação no definitivo se mantém unicamente enquanto a matéria foi ‘momento extático do ato humano livre’. Em todo caso, também neste modelo o corpo é abandonado à morte, afirmando-se, ao mesmo tempo, que o homem segue vivendo. Assim a oposição ao conceito de alma se torna incompreensível porque, como quer que seja, se tem de voltar a manter uma realidade própria da pessoa separada do corpo, e isso era, sem tirar nem pôr, o que queria dizer o conceito de alma” (p. 128). Mais adiante resume esta objeção. “Esta destemporização [da ressurreição, transladada para o momento da morte] teve como consequência uma desmaterialização, dado que é evidente que o homem não ressuscita corporalmente no momento de sua morte” (p. 181), pois, enquanto goza da “ressurreição”, seus parentes seguem velando sua carne.
Tampouco deixa de haver algum pequeno problema com respeito à ressurreição de Cristo. “A primeira coisa que não se deveria ignorar aqui por completo é que a mensagem da ressureição no ‘terceiro dia’ põe muito claramente uma distância entre morte e ressurreição” (p. 131).
E no Epílogo para a 6ª edição dá sua verdadeira dimensão a estas concepções. “Aumentou o perigo de retirar por completo a fé da realidade material e terminar assim num novo docetismo, que começa na cristologia e termina na escatologia [o docetismo, ensinava que a carne assumida por Cristo não era real, mas só aparente, e agora se terminaria por supor o mesmo para toda a humanidade]: em grande medida, da figura de Cristo só se considera importante sua palavra, não sua carne (sustentar seu nascimento virginal e sua real ressurreição do túmulo é visto por não poucos como algo diretamente indecoroso: tão forte chegou a ser a pressão deste docetismo em alguns lugares)” (p. 276).
Estendemo-nos nestes argumentos não com a intenção de seguir o fio da discussão, mas só para mostrar que o autor tem clara advertência das implicações enormes destes erros. Não só pulverizam a Revelação-se não há alma, tampouco há Purgatório, senão que acabam com a mesma realidade. Porque o devir da história se dá a uma só vez com a plenitude do término: Se o que será já é, o que é já deixou de ser. Algo assim dizia o velho Heráclito.
2º Positiva valorização de todo
“experimento argumentativo”
Conquanto o autor sustente contra estes erros sua opinião, trata-os com todo o respeito, sem mostrar nem por um momento a possibilidade de um anátema heresia. O máximo que nos diz é que “na questão da corporeidade por e da existência da alma se dá uma estranha mistura de opiniões, a qual certamente não se pode aceitar como a última palavra” (p. 129). Sabe perfeitamente que todas estas opiniões foram anatematizadas pela Igreja (cf. § 5, III. “Os documentos do magistério da Igreja”, p. 151–158), mas todas estas condenações são história. “Ao finalizar a Idade Antiga, antes de tudo devido à oposição à corrente origenista da teologia, a polêmica simplifica-se e torna-se mais tosca: o que então se discute é que materialidade tem o corpo ressuscitado e qual tem de ser sua relação com o corpo terreno… conformar-nos-emos com remeter aos símbolos posteriores, cuja linguagem a respeito é sumamente drástica” (p. 153). O itálico da citação é evidentemente nosso, mas o pomos para que o leitor advirta que os textos que o autor cita em seguida não devem tomar-se ingenuamente: “Cremos que havemos de ser ressuscitados Ele no último por dia nesta carne que agora vivemos” (Fides Damasi); “[não] em carne aérea ou em outra qualquer, mas nesta em que vivemos” (Concílio de Toledo); “ressuscitarão com seus próprios corpos que agora levam” (Lateranense). Bento XII já havia declarado também que as almas dos fiéis já purificadas “estão e estarão no céu… ainda antes da reassunção de seus corpos e do juízo universal” (bula dogmática Benedictus Deus).
Para um teólogo “universalista” como gostaríamos de ser nós, estas sentenças do magistério deixam as atuais “tendências” completamente fora da ortodoxia e fora, portanto, da discussão teológica. Mas, segundo o tradicionalismo subjetivista do autor, estas definições não devem ser desprezadas, mas tampouco tomadas toscamente, e sim marcadas em seu momento histórico, e transpostas para a atualidade. “De tal reação [contra o origenismo) surgiram aquelas maciças formulações de diferentes profissões de fé sobre a identidade do corpo terreno com o corpo ressuscitado, formulações que já vimos em 5§ 5º, III. Para a visão retrospectiva, estas fórmulas são verdadeiramente um ensinamento sobre o problema de uma hermenêutica do dogma. Reconhece-se com toda a clareza a includível tarefa que aqui tinha de arrostar o magistério eclesiástico, premido pela reação da fé simples: o magistério teve de defender o realismo da fé contra o exagero das construções matemáticas. Teve de defender uma ressureição humana contra outro tipo matemático. Mas, para vir a formular isto, não dispunha de terminologia adequada, pela simples razão de que a reflexão já havia errado o caminho. Portanto, não pôde senão expressar-se na linguagem de um sensualismo ingênuo que não havia de representar a última palavra” (p. 193). Ao que parece, o Divino Ressuscitado padecia a mesma sensualista ingenuidade ao declarar a seus Apóstolos: “Vede minhas mãos e meus pés, que eu sou; tocai-me e vede, que o espírito não tem carne nem ossos como vês que eu tenho” (Lucas 24, 39).
Estes gravíssimos erros, portanto, não só não podem ser condenados, senão que devem ser ouvidos com todo o respeito. No Epílogo para a 6ª edição alemã, onde faz referência à discussão posterior à sua obra sobre escatologia, depois de comentar o seguinte sobre a solução “monista” de H. Küng: “O mérito do teólogo de Tübingen consiste em que manifesta abertamente uma consequência que, em geral, costuma esquivar-se: se as coisas são assim [‘o homem morre inteiro’], então a oração pelos defuntos não tem sentido” (p. 258), e depois de referir a apreciação de K. Rahner sobre estas opiniões: “Quem sustenta a opinião de que a plenitude única e completa do ser humano quanto ao ‘corpo’ e à ‘alma’ se apresenta de forma imediata com a morte, e que a ‘ressurreição da carne’ e o ‘juízo universal’ acontecem ‘ao longo’ da história temporal do mundo, e que ambas as coisas coincidem com a soma dos juízos particulares de cada um dos homens, não está em perigo de defender uma heresia” — Rahner dixit — , Joseph Ratzinger declara: “O leitor do presente livro reconhecerá com facilidade que assumi aquilo que nestas ideias leva realmente adiante, mas tentado ao mesmo tempo corrigi-las de acordo com os dados essenciais da fé” (p. 259). Lemos o livro e reconhecemos que não descartou as ideias totalmente, nem de longe.
Mais ainda, todas estas opiniões antitéticas às teses da fé simples parecem ter sido necessárias para progredir na história do espírito. “De muitos pontos de vista foi também totalmente proveitoso e justificado fazer alguma vez o experimento argumentativo de comprovar se se podiam descrever os conteúdos em questão com uma terminologia nova e renunciando ao conceito de alma. Mas quem considere imparcialmente o resultado deverá admitir que não é possível” (p. 295). Ainda que esteja vendo que, com tantos “experimentos argumentativos”, a Igreja naufraga na fé, não reprocha nada a ninguém, senão que, com ânimo esforçado, termina seu livro propondo as “linhas fundamentais para um novo consenso”.
II. A inconsistência da verdade
A hermenêutica subjetivista da continuidade levou o autor a deixar de lado um dos ofícios do sábio, condenar o erro. “Assim como é próprio do sábio” diz Santo Tomás, “buscar a verdade do primeiro princípio, e conforme a esta julgar as demais verdades, assim também lhe é próprio impugnar a falsidade contrária. Portanto, acertadamente o livro da Sabedoria assinala para o sábio um duplo ofício, no texto acima citado: o considerar e comunicar o que é a verdade divina, que é a verdade por antonomásia, e a isso se refere quando diz: ‘Minha boca meditará a verdade’; e impugnar o erro contra a verdade, quando acrescenta: ‘E meus lábios detestarão a injustiça’” (8). Vejamos agora como se sai no ofício de estabelecer a verdade.
Mas aqui deparamos com uma segunda consequência não menos desoladora do subjetivismo: a inconsistência de seu acesso à verdade. Digamo-lo claramente. Ninguém pode pôr-se a pensar em questões profundas nem desfazer as objeções do cepticismo moderno se não frequentou a escola de Santo Tomás, mestre dos mestres. Os Papas não se cansaram de repeti-lo, mas no seminário que nosso futuro teólogo e Pontífice frequentou não o levaram em sério. As explicações do autor movem-se numa névoa tal de vagueza e indefinição que, se não lêssemos outra coisa que obras como a presente, concederíamos certamente que o pensamento é propriamente incomunicável e depende do sujeito. Talvez ele se entenda! Evidentemente, o subjetivismo moderno envenena-se com seu próprio veneno.
1º Douta ignorância do tomismo
Joseph Ratzinger renunciou a Santo Tomás sem chegar a conhecê-lo (9). As referências às posições tomistas são sempre através de autores modernos, e, quando as explica, comprova-se que não foram entendidas (10). Ao referir-se à história da teologia do corpo ressuscitado, expõe uma caricatura da doutrina tomista da mudança substancial e descarta-a dizendo: “[Para Santo Tomás] entre o corpo vivo e o cadáver está o fosso da matéria prima. Neste sentido, a doutrina tomista levada a suas últimas consequências não pode provar identidade alguma entre o corpo antes e depois da morte” (p. 195).
Tem uma visão deformada não só da doutrina tomista, mas também de suas circunstâncias históricas. Em primeiro lugar, os vícios do historicismo dão ao autor uma visão deformada da mesma história do pensamento, porque o historiador subjetivista gosta de encontrar oposição entre os pensadores por motivos subjetivos, sendo incapaz de apreciar o substrato permanente de doutrina universal em que se comunicam. É assim que só parece haver oposição entre Platão e Aristóteles, e entre Aristóteles — um Aristóteles entendido à maneira averroísta (11) — e Santo Tomás. “Quando Tomás, de acordo com Aristóteles, responde à questão sobre a essência da ‘alma’, dizendo: anima forma corporis (a alma é forma’ do corpo), realmente se deu nisso uma mudança radical do aristotelismo. […] Um dos mais importantes investigadores da relação existente entre Tomás e os gregos, A. Pegis, escreve a respeito: ‘Deste ponto de vista, a doutrina tomista de uma substância intelectual como forma substancial da matéria há que considerar-se como um momento histórico em que conscientemente se utilizou a fórmula aristotélica para expressar filosoficamente uma visão do homem que a tradição aristotélica e seu mundo consideravam como uma impossibilidade metafísica’” (p. 166). Ao historicismo subjetivista entusiasma-o transformar quaisquer diferenças de doutrina, às vezes claramente acidentais e facilmente integráveis, em contradições substanciais. Encanta-o mostrar a linha da “história do espírito” como um contínuo de descontinuidades.
Ademais, a mesma história de Santo Tomás é olhada com óculos sem as devidas dioptrias. “A isto deveu-se a forte oposição e as condenações eclesiásticas de que foi objeto a nova antropologia do Aquinate, que falava de anima unica forma corporis. Porque isto levava à negação filosófica da identidade do cadáver de Jesus com o Ressuscitado” (p. 196). A condenação foi dada pelo chanceler da Universidade de Paris em 1277, o qual, abusando de um mandado do Papa, incluiu algumas teses tomistas dentro de uma condenação do averroísmo. Mas o problema foi imediatamente freado, sendo oficialmente anuladas em 1325, dois anos depois da canonização de Santo Tomás. Falar de condenações eclesiásticas sem maior esclarecimento tangencia a calúnia. Também acrescenta: “A isso deveu-se que o mesmo Santo Tomás se assustasse com as consequências de sua tese, recortando-a em grande medida com acréscimos no referente à questão da ressureição”. Este susto é solene invenção, e quem vê acréscimos recortantes no monolítico sistema tomista demonstra não entender nada. E a seguinte frase remata a demonstração: “Foi Durando de São Porciano o primeiro que se atreveu a desenvolver estritamente e com todas as consequências o começo posto pelo Aquinate”. Que pode saber de Santo Tomás quem crê vê-lo explicado por Durando, a respeito de quem faz Gilson o seguinte comentário: “O único erro de Durando, aos olhos da Ordem [dominicana], foi — ao que parece — o de não ter sido tomista e de tê-lo manifestado numa época em que Santo Tomás já era o Doutor oficial da Ordem”? (12)
Assim é, então, como Joseph Ratzinger renuncia ao único remédio que os Papas propuseram contra o câncer subjetivista do pensamento moderno. “Hoje nos é simplesmente inaceitável em sua estrutura original o conceito aristotélico tomista de matéria e forma que serve de base para a tese de Durando. Nesse sentido, não é nenhuma solução a restauração global do tomismo consequente” (p. 196).
2º Uma “antropologia dialógica”
Que nova estrutura lhe dará então os conceitos de matéria e de forma para dizer o que é a alma? O autor sustenta uma “antropologia dialógica”, da qual resulta uma “imortalidade dialógica” para a alma (cf. p. 270) que é fácil batizar mas não tanto explicar. Tentemos seguir um itinerário que passe por cima de toda distinção escolástica como Pedro sobre as águas (usamos uma comparação do autor e sugerimos o resultado).
A distinção de matéria e de forma é evidente para qualquer pessoa e não são necessários estudos para aplicá-la. Vê-se que o ser vivente conserva uma mesma forma enquanto a matéria de suas células se renova constantemente. Mas na hora de precisar o que é propriamente a alma e que funções cumpre são necessários um Aristóteles e um Santo Tomás para dizê-lo. Ratzinger não se nega simpliciter a aplicá-la à distinção entre corpo e alma: “É inevitável uma dualidade que distinga o constante do variável, dualidade exigida pela lógica do assunto. Por esta razão é irrenunciável a distinção entre alma e corpo” (p. 176). O “fator de permanência” é a alma enquanto forma de corpo, e o de variabilidade é a matéria. Mas não consegue nem sequer suspeitar a sutileza da doutrina tomista, que no desenvolvimento coerente de uma física, de uma psicologia e de uma metafísica resolveu mil questões por suas necessárias distinções. O autor avança em sua “nova estrutura” com passo ligeiro sem distinguir nada. Defende a unidade do homem dando a impressão de que a distinção entre forma e matéria não é real mas de razão — “exigida pela lógica do assunto” — , mas não o esclarece: “Aqui se chegou, pois, a uma afirmação de tremenda magnitude: o espírito é tão totalmente uno com o corpo no homem que se lhe pode aplicar com todas as consequências o termo ‘forma’. E inversamente: a forma deste corpo é, ao mesmo tempo, espírito, fazendo, em consequência, pessoa ao homem” (p. 167). Aqui se chegou, melhor, a uma afirmação de tremenda vagueza. Depois de ter entendido averroisticamente a distinção aristotélica das “partes” da alma (que a divide em suas potências e não em sua essência), confunde as funções da alma como forma do corpo e como espírito ou intelecto. Como entender que o corpo tenha “forma espiritual”?
Quando diz, então, que a síntese do pensamento cristão sobre a alma “alcançou primeiramente sua forma definitiva e convincente em Tomás de Aquino” (p. 166), não há que iludir-se demasiado. Como não vê problemas em que a alma seja, ao mesmo tempo e pelo mesmo, forma de um corpo particular e intelecto capaz de adequar-se ao universal, o autor tranquilamente nega que haja que falar de uma ‘substância’ chamada alma, com poder substancial em si mesma e com uma imortalidade que deriva dela mesma” (p. 168), como sustenta Santo Tomás, o qual não diz que a alma seja uma substância completa, mas sim que é capaz de subsistir por si mesma enquanto espiritual. Este seria um conceito que descartar, porque a “acusação de dualismo se reforça com a ideia de que, quando se fala de alma, se fundamenta uma imortalidade’ de forma substancialista, a partir da indivisibilidade da substância espiritual, argumentando-se, em consequência, de modo teologicamente equivocado. Vamos conceder que na consciência geral se tenham estendido concepções algo simplistas. Mas nos grandes teólogos não encontrei em nenhum lugar uma argumentação da imortalidade de tipo puramente ‘substancialista’, argumentação que Platão tampouco conhece” (p. 168–169). Aborrece-nos que se atreva a assinalar traços de simplismo em Santo Tomás, a quem nunca, no entanto, olhou nos olhos (e a quem não conta entre os grandes teólogos). A nova estrutura de sua “antropologia dialogal” vai buscá-la numa homilia de São Gregório de Nissa (p. 169–170), certamente grande teólogo, mas que não se pudera beneficiar do instrumento da filosofia aristotélica.
A indistinção entre as funções da alma como forma corporis e como intelecto supõe indistinção entre ser e conhecer. A esta pequena ambiguidade soma agora a indistinção entre contemplação racional de Deus e visão sobrenatural face a face. Jesus Cristo diz que a vida eterna é conhecer a Deus. Também os gregos consideravam que a vida era contemplação da suma verdade. Mas a Bíblia adverte que ninguém pode ver a Deus por suas próprias forças: “O filósofo é Pedro no mar; com suas especulações quer acabar com a mortalidade e contemplar a vida. Mas não o consegue. Acaba por afundar”. Só a mão estendida de Cristo pode levar-nos à visão de Deus, na qual consiste na imortalidade. “A ideia platônica da vida proveniente da verdade se aprofunda aqui graças à sua transformação cristológica até chegar a uma concepção dialogal do homem” (p. 170). Alcançamos então uma nova definição do homem em que tudo se mescla, essência e potência, natureza e graça: “Dessa forma se concebe o homem como uma essência ‘capaz de conhecer e de amar a Deus e chamada a isso. Isto representa a assimilação do conceito dialogal devido à visão cristológica do homem, conceito que se associa, ao mesmo tempo, ao problema da matéria, da unidade dinâmica de todo o mundo criado” (p. 171). É verdade que o homem se caracteriza pelo intelecto, que o torna capaz de conhecer e de amar a Deus, mas, como o autor não distingue entre substância e acidentes, considera que esta abertura ao diálogo com Deus é constitutiva diretamente da essência do homem. E, como o diálogo com Deus é vida eterna, essa abertura dialogal do homem dá a razão de sua imortalidade: “O encontrar-se remetido a Deus, à verdade mesma, não representa para o homem um mero prazer intelectual. Se há que interpretá-lo a partir da fórmula anima forma corporis, então essa fórmula representa o núcleo de sua essência. Enquanto criatura, por sua mesma essência, o homem é criado numa relação que implica indestrutibilidade” (p. 172).
Como Joseph Ratzinger pôs Cristo para tornar possível o diálogo que constitui a essência do homem, reconhece que aqui cabe uma objeção: “Se o dialogal se torna concreto a partir do cristológico, então não há outra saída que perguntar-se se com isso não nos lançamos na mãos de um supranaturalismo” (p. 171). Mas responde rápido. Se Cristo pode levar o homem ao diálogo com Deus, é porque o homem tem esta capacidade ou abertura por sua mesma forma natural, isto é, por sua alma (na linguagem tomista seria a potência obediencial que a alma tem para ser elevada à visão da essência divina): “O homem é esse grau da criação, essa criatura, a cuja essência pertence o poder ver a Deus (ou seja, o estar capacitado para a verdade em seu mais amplo sentido) e, em consequência, participar da vida. Portanto, se antes chegamos à conclusão de que o que torna o homem imortal não é o ser ele mesmo, carecendo de toda relação, mas, muito pelo contrário, seu encontrar-se referido a outro, a capacidade de sua relação com Deus, então temos de acrescentar agora que essa abertura da existência não representa um acréscimo a um ser que existisse independentemente disso, senão que constitui o mais profundo da essência humana: essa abertura é, sem tirar nem pôr, o que chamamos ‘alma’” (p. 172). Mas, bem visto, absolutamente não escapa à acusação de “supranaturalismo”, porque, ainda que possa dizer que o homem tem alma imortal antes de referir-se a Cristo, no entanto não pode alcançar o fim que por natureza teria sem ser elevada por Cristo à visão de Deus, que é de ordem sobrenatural. O natural exige o sobrenatural, como ensinava De Lubac.
Em seguida ao parágrafo anterior, as indistinções atingem o ápice: o homem é relação. “De outra perspectiva se pode chegar ao mesmo ponto e dizer, por exemplo: um ser é tanto mais ele mesmo quanto mais aberto se encontra, quanto mais relação é. Isto, por sua vez, leva à conclusão de que o homem é um ser aberto ao todo e à raiz mesma do ser, sendo, pois, um ‘eu’, uma pessoa” (p. 172). Santo Tomás diz algo parecido: “A natureza das coisas sem conhecimento é mais coarctada e limitada, enquanto a natureza das coisas que conhecem tem mais amplitude e extensão” (13), maior abertura poderíamos dizer. Mas esta abertura dá-se na potência intelectual do homem, que é imaterial, e não imediatamente na essência da alma. Ademais, a relação de adequação à verdade exige os atos de conhecimento. Além disso, uma coisa é conhecer em ato “aquilo que é”, quer dizer, o ente em sua universalidade, outra coisa é alcançar por demonstração a existência de Deus, Ente por si, e uma terceira muito diferente é ver a mesma Essência divina pela elevação do intelecto à ordem sobrenatural. Nisto consiste a vida eterna, mas já a existência de uma potência imaterial permite falar de imortalidade para a alma. Como se vê, nunca terminaríamos de esclarecer coisas. Mas o autor passa por cima: o homem é por essência uma relação dialogal, relação sem sujeito na substância e sem fundamento na ação de conhecer. Para piorar, a relação é a mais etérea das categorias do ente, pois nada diz do que a coisa é em si, sendo muitas vezes difícil dizer se é algo real de ou razão. A partir de agora não sabemos se o homem é algo em si ou puro eco de um monólogo divino (14).
E o nosso teólogo sente a dificuldade de sua posição. Se a pessoa existe e é imortal enquanto relação dialogal com Deus, “que acontece quando o homem vive contra sua natureza, fechado em vez de aberto? Que ocorre quando nega sua relação com Deus ou não a leva em conta?” (p. 173). Quase perde a existência, mas não de todo, porque, queira ou não queira, Deus o criou como uma abertura para a verdade: “O que consegue com seu comportamento não é a invalidação do ser, mas uma existência em contradição consigo mesmo, uma possibilidade negadora de si mesma: sheol. A radical referência dirigida à verdade, a Deus, que exclui o não ser, segue de pé, ainda que seja como negada ou esquecida” (p.174). A confusão entre ser e conhecer é um lastro que afunda o barquinho do pensamento moderno desde o “cogito ergo sum” de Descartes.
3º A “materialidade” da alma
Armado de sua “antropologia dialógica”, o autor arremete contra os moinhos modernistas, que moem os dogmas com suas teses do não tempo, para defender a dama de seus sonhos: a situação intermédia entre morte e ressurreição (não quereríamos ser desrespeitosos — ao menos não demasiado — , mas Joseph Ratzinger é visto por muitos como o Quixote da tradição). Mas o que consegui- rá com armas dessa condição?
Para seguir ao nosso teólogo nesta etapa da viagem, peço ao leitor ajuste a cincha de sua cavalgadura, porque a coisa se torna vertiginosa. Como bem assinala o autor, as teses da ressurreição no momento mesmo da morte terminam negando a condição corporal do homem: “Esta destemporalização teve como consequência uma desmaterialização” (p. 181). Ele vai entender a materialidade partindo do conceito, que atribui a Santo Tomás, de alma forma corporis: “Se a essência da alma consiste em ser ‘forma’, então jamais poderá prescindir de sua referência à matéria, tendo de acabar com a alma mesma para tirar-lhe isso. Nesse sentido, dá-se aqui uma lógica antropológica à luz da qual a ressurreição é postulado da mesma condição do homem” (p. 194). Em primeiro lugar, não quer aceitar que a alma separada alcance uma subsistência imaterial, senão que parece pensá-la tão material como se separássemos a forma de uma estátua de mármore, a qual certamente “jamais poderá prescindir de sua referência à matéria”. E, ademais, seguindo por este falso caminho, põe a alma como único princípio de individuação, isto é, único determinante da singularidade de seu corpo: “Os elementos materiais, constitutivos do organismo corporal humano, adquirem sua qualidade de ‘corpo’ unicamente graças a que são organizados e determinados pela força expressiva da alma… Os diferentes átomos e moléculas não são o homem’, nem depende deles a identidade da ‘corporeidade’. Esta depende antes de que a matéria subjaz à força expressiva da alma” (p. 194–195).
Crê assim interpretar em continuidade o pensamento de Santo Tomás. “É a única maneira de conservar aquilo que verdadeiramente interessava ao grande mestre [agora, sim, é grande]. Não há dúvida de que Santo Tomás não oferece receita alguma comodamente copiável, mas seu pensamento central segue sendo um bom indicador da direção que tinha” (p. 196). Mas em verdade se encontra nos antípodas. Todos estes são erros que guardam íntima conexão com o subjetivismo, que o faz incapaz de compreender a relação entre forma e universalidade. Para Santo Tomás a individuação vem sempre da parte da matéria, mas não da pura matéria prima, e sim da matéria signada pela quantidade. Isto vale ainda para a forma de uma estátua de mármore, que, ao existir separada na mente do artista, é imaterial e universal, e pode ser infundida em diversas matérias para ser estátuas distintas. Por este motivo, se a alma não ressuscita na mesma matéria singular em que viveu, não ressuscitaria a mesma, mas outra pessoa distinta. É verdade que isto coloca um enorme problema metafísico na hora de ressuscitar, e esperemos que nosso grande Deus o saiba resolver, mas por ora seu futuro Vigário o simplificou, atribuindo a individuação à alma: “A identidade do corpo não há que buscá-la a partir da matéria, mas da pessoa, da alma” (p. 196). Dessa maneira, a pessoa seguirá sendo a mesma com qualquer matéria que queira depois incorporar.
4° A “temporalidade” da alma
Antes de dar sua última palavra sobre o mistério da ressurreição, Joseph Ratzinger enfrenta uma questão prévia: “Que significa ‘ressurreição no último dia?” (p. 197 a 206). O homem, ao morrer, não entraria sem mais na eternidade, porque “uma eternidade que tenha começo não é eternidade”, nem no evo, porque vale para o anjo “e não para o homem” (p. 197), senão que, dado que não perde sua condição humana, assim como não deixa certa materialidade, tampouco deixa certa temporalidade (15). Esta temporalidade humana tem que ver com seu caráter dialogal: “Seu modo especial de temporalidade procede, não em último lugar, de sua relacionalidade, ou seja, do fato de que só se faz ele mesmo em virtude de seu ser-com-outros e em ordem a outros: seu embarcar no amor ou também sua negativa a amar vinculam-no ao outro e à sua temporalidade especial, a seu antes e depois. A rede de co-humanidade representa, ao mesmo tempo, uma rede de cotemporalidade” (p. 199). Tendo em conta, então, que “a este ‘tempo humano’ vamos dar o nome de tempo da memória”, resulta “que, quando o homem sai do mundo do bíos (a vida), o tempo da memória se desliga do tempo físico, ficando como puro tempo da memória, mas sem converter-se em ‘eternidade’” (p. 199).
O homem que morre não perde assim sua relação com a história, “porque a relacionalidade humana pertence à sua mesma essência” (p. 200). Isto explica “que exista a possibilidade de uma purificação e de um destino último que tem de chegar à sua plenitude por uma nova relação com a matéria” (p. 199). Porque “pode um homem adquirir a perfeição total e encontrar-se no final do caminho enquanto se siga sofrendo por sua causa, enquanto a culpa devida a ele siga influindo na terra e fazendo sofrer às pessoas? A doutrina do karma no hinduísmo e no budismo sistematizou e também ampliou a seu modo este convencimento humano originário” (p. 203).
Como advertimos, o autor marcha a passo rápido. Acaba de abrir um espaço para a situação intermédia entre a morte e a ressurreição final. Mas agora nos dá a impressão de que seu entusiasmo historicista abriu um espaço demasiado amplo. O homem chega ou não chega à eternidade? Se os homens não chegam à plenitude enquanto se sofre na terra por sua causa, há algum santo no céu? É para duvidar: “Desta perspectiva, dito seja de passagem, haveria que interpretar o contexto íntimo dos dogmas da preservação imaculada de Maria e de sua assunção corporal ao céu: ela chegou plenamente ao lar há culpa que haja saído dela que faça sofrer a outros e siga atuando no padecimento, que porque não é o aguilhão da morte no mundo” (p. 203). Ai! que será de Adão e Eva! Mas passemos rapidamente também nós à seguinte “Questão sobre a corporeidade da ressurreição”.
5º A ressurreição da carne
Joseph Ratzinger vai dar sua interpretação da ressurreição final dos corpos fazendo suas as ideias de outros dois grandes doutores. “A ideia fundamental que emerge em Tomás recebeu em Karl Rahner um aspecto novo quando diz que na morte a alma não se faz acósmica, mas universalmente-cósmica. O que quer dizer que lhe segue sendo essencial a relação com o mundo material, ainda que já não seja enquanto informa como enteléquia a um organismo, mas sim com base na relação com este mundo como tal e em sua totalidade” (p. 207). As almas, disse-se, guardam sua identidade material por si mesmas, podendo então “expressar sua corporeidade” por novas relações com a matéria. Como o homem permanece numa imortalidade dialogal, em relação com Deus e com os demais, bem pode pensar-se a ressureição final como uma estrutura relacional de todos com Deus e com todos, numa nova relação purificada com a materialidade cósmica, alcançando assim a unidade de uma nova corporeidade globalizada.
Algo assim havia dito Teilhard. “Não é difícil relacionar este pensamento com ideias de Teilhard de Chardin. Poderíamos talvez dizê-lo desta maneira: relação com o cosmos implica necessariamente também relação com a temporalidade do universo, pois este, a matéria, é enquanto tal de caráter temporal, um processo do devir… Essa temporalidade é, antes de tudo, um avançar para unidades cada vez mais complexas e chama com isso à complexidade total, a uma unidade que abarca todas as unidades existentes até agora. O aparecimento de cada espírito no mundo da matéria representa, considerada cosmicamente, um momento nesta história da conjunção entre matéria e espírito” (p. 207). No fim do mundo se “alcança a incorporação de tudo em tudo, na qual cada ser se faz ele mesmo precisamente porque se encontra totalmente no outro. Essa incorporação representaria, por seu lado, que a matéria será algo próprio do espírito de uma maneira totalmente nova e definitiva e que o espírito se unificará totalmente com a matéria” (p. 208).
Este processo culmina “pela nova força que vem de fora e que se chama Cristo” (p. 210): “Último dia”, “fim do mundo”, “ressurreição da carne” seriam, pois, modos de expressar a chegada a seu fim deste processo, que certamente só se pode dar de fora graças ao qualitativamente novo e distinto, mas corres- ponde à ‘deriva’ mais íntima do ser cósmico” (p. 208). O autor parece propor uma ideia de “Corpo de Cristo” final a que não qualifica com razão de “místico” (não usa este adjetivo em nenhum momento), porque seria um único corpo em sentido próprio e não em sentido figurado. Todos os espíritos unificados em Deus se expressariam numa corporeidade cósmica única.
Se tentamos entender o dito com mentalidade “substancialista”, isto é, crendo que as coisas e as pessoas têm um ser e uma unidade substancial, ficamos de cabelos em pé. O cosmos passaria a ser um grande Corpo espiritualizado ou Espírito corporizado, no qual nos haveríamos encarnado todos unidos uns aos outros. Mas seria deformar o pensamento do autor, para quem o ser é conhecer e as pessoas são relação, que se expressam na corporeidade como a ideia no símbolo (aqui exageramos o pensamento do autor, que não quer ser idealista, mas, queira ou não queira, suas ideias vão por esta linha). Sendo assim, pode-se chegar a pensar numa estrutura unificada de relações que se expressa agora em um único símbolo cósmico.
Prevendo o que nos ia acontecer se, com nossa mentalidade substancialista, nos puséssemos a imaginar o cosmos como um grande buda feito de matéria estelar e cheio de olhos por todos os lados, o autor adverte-nos: “Há detalhes do mundo da ressurreição que são inimagináveis… A esse respeito não podemos ter ideia nenhuma, nem necessitamos dela. De fato, haveria que prescindir de uma vez por todas de tais tentativas”. Ah! haveria sido melhor que tivesse começado por aqui e tivesse prescindido ele de suas tentativas de escatologia!
III. O esvaziamento da doutrina
As duas primeiras consequências do subjetivismo, o respeito ao erro e a inconsistência da verdade, desembocam numa terceira, o esvaziamento da doutrina. Depois de deixar tanto terreno sob o império da incerteza, depois de defender tão inconsistentemente os domínios dogmáticos fundamentais, o “conteúdo” vago que finalmente resta de doutrina católica é muito pouco e muito vago — ainda que a intenção de continuidade do autor o leve a defender, contra os depredadores modernistas, os “esquemas terminológicos” da fé simples.
1º A dupla verdade dos esquemas e do conteúdo
Em leal subjetivismo, Joseph Ratzinger vai dar muita importância à distinção entre esquema e conteúdo, a qual aparece muitas vezes no livro. “A diferença entre esquema e conteúdo é essencial neste tema [a proximidade da parusia]” (p. 63). “As imagens utilizadas no Novo Testamento não se devem tomar como enunciados de conteúdo, pecando por ingenuidade; haverá que ter presente que entre o esquematismo terminológico e a intenção do conteúdo existe aquela diferença de que já nos ocupamos detidamente ao tratar da questão da parusia” (p. 183, destaques nossos). A distinção é de origem kantiana: “Na teoria kantiana do conhecimento, o esquema desempenha o papel de membro intermédio que liga os conceitos do entendimento (as ‘categorias’) aos cambiantes fenômenos da sensibilidade e possibilita a aplicação das categorias ao sensorialmente dado. Ele mesmo é de ordem sensível, ‘produto da imaginação’, ou seja, um determinado modo de ser dado no tempo; devido à sua universalidade, tem parentesco com o conceito” (16).
A aplicação é simples. Pelo que vimos, a ressurreição corporal é inimaginável. Mas Nosso Senhor tinha de oferecer um esquema explicativo adequado à imaginação simples de seus discípulos, e por isso se apresentou ao terceiro dia expressando-se num corpo real. “A mensagem da ressureição ao terceiro dia’ põe muito claramente uma distância entre morte e ressurreição” (p. 131). Pomos “mensagem” em itálico para que se saiba que é uma imagem que interpretar sem pecar por ingenuidade. Já vimos que, segundo o autor, a distância entre morte e ressurreição parece ser mais ampla (17).
Mas, embora os nada ingênuos senhores teólogos devam buscar o conteúdo desses esquemas fazendo uma hermenêutica histórica que leve em conta os esquematismos próprios de cada época porque não são iguais os de um judeu do século I e os de um medieval, no entanto a lingua douta dos eruditos deve esperar a simples “linguagem do anúncio da fé”, que deve ser comum a todos. Por este motivo, por exemplo, se se dá ao esquematismo da imortalidade da alma um conteúdo incompreensível para o comum dos mortais, o de “ressurreição no não tempo”, “o teólogo interna-se, também como erudito, num gueto teológico da linguagem e do pensamento no qual ninguém comunga com ele, nem linguisticamente nem conceitualmente. Por isso, a referência feita pela Congregação para a Doutrina da Fé a um irrenunciável ‘sustento’ linguístico dado na palavra ‘alma’ com respeito a seu significado é objetivamente forçosa” (p. 296).
A “hermenêutica (subjetivista) da continuidade” aproxima, então, o nosso tradicional teólogo da clássica posição da “dupla verdade”. Como não quer perder sua liberdade de pensar e tampouco quer romper com a tradição, vê-se levado a sustentar, ao mesmo tempo, a verdade erudita das intenções de conteúdo e a verdade ingênua dos esquemas terminológicos. Mas estas verdades são às vezes muito difíceis de compor. Se fazemos o compêndio das conclusões que, em língua douta, a “Escatologia” do teólogo Joseph Ratzinger sustenta, parecerá muito diferente do Compêndio do Catecismo que, em língua ingênua, o Papa Bento XVI quis promulgar para os fiéis cristãos. Estas coisas dão a impressão, tanto a rupturistas modernos como a integristas tradicionais, que sustenta uma “dupla verdade”, em esquizofrénica contradição.
Isto já havia acontecido a outros. Averróis, um dos maiores filósofos árabes (o “Comentador” de Aristóteles), teve de suar muito para conciliar os direitos da razão filosófica com as exigências da fé corânica. Ante as lutas entre filósofos aristotélicos e teólogos dogmáticos, “interessava salvaguardar”, diz Gilson, “os direitos e a liberdade da especulação filosófica; mas, por outro lado, não se podia discutir que os teólogos tivessem razão para inquietar-se ao ver que a discussão dos textos do Corão se estendia a todos os ambientes” (18). Para pacificar, Averróis assinalará que o Corão — como a Bíblia para Joseph Ratzinger — oferece um duplo nível de compreensão: “Tem um sentido exterior e simbólico, para os ignorantes; um sentido interior e oculto, para os sábios”. Daí que ponha duas normas: “A primeira é que um espírito nunca deve tentar elevar-se acima do grau de interpretação de que é capaz; a segunda, que jamais se devem divulgar entre as classes inferiores de espíritos as interpre- tações reservadas às classes superiores!” Em caso de conflito de interpretações, “deixemos ao filósofo falar como filósofo e ao simples fiel falar como crente”. É claro que às vezes é a mesma pessoa a que sustenta as duas modalidades: “Averróis fala como se ele mesmo fosse, simultaneamente e pelo mesmo aspecto, filósofo e crente. Assim, no concernente ao problema da unidade do intelecto agente, declara expressamente: ‘Pela razão concluo na necessidade de que intelecto seja numericamente uno, mas firmemente sustento o oposto pela fé. Esta fórmula e outras parecidas fizeram que seus adversários lhe atribuíssem a doutrina chamada da ‘dupla verdade’; segundo tal doutrina, duas conclusões contraditórias poderiam ser simultaneamente verdadeiras: uma para a razão e a filosofia, a outra para a fé e a religião”. Não parece, contudo, que Averróis — como Ratzinger — tenha negado a unidade da verdade. “Que pensava realmente? A resposta permanece oculta no segredo de sua consciência. Averróis não rompeu jamais com a comunidade muçulmana, ao contrário, pois que sua mesma doutrina lhe proibia fazer nada que pudesse debilitar uma fé necessária para a ordem social; qualquer que tenha sido seu pensamento íntimo, ele sabia que devia agir assim. Diz que a conclusão da razão é necessária, não que seja verdadeira; mas tampouco afirma que o ensinamento da fé seja verdadeiro, mas só que se atém a ele firmemente”. Parece-nos que a situação da solução dos dois pensadores é muito semelhante, com a diferença de que em Averróis era melhor sua filosofia que sua fé, enquanto em Joseph Ratzinger ocorre o contrário.
2º O conteúdo dos esquematismos escatológicos
Para medir, então, o grau de esvaziamento doutrinal a que se chega, consideremos as conclusões do autor sobre as grandes questões da escatologia que trata no capítulo terceiro.
Ressurreição dos mortos. “Como conclusão, fiquemos com isto: não há maneira alguma de imaginar o mundo novo. Tampouco dispomos de nenhuma classe de enunciados concretos que nos ajudem a imaginar de alguma maneira como o homem se relacionará com a matéria no mundo novo e como será o ‘corpo ressuscitado’” (p. 210). Das oito questões de Santo Tomás sobre a condição dos ressuscitados (31 artigos no Suplemento da Suma) não restou muito. O forte realismo da ressurreição de Cristo nos Evangelhos é um esquema imaginativo bom para o Compêndio do Catecismo: “120. A Ressurreição de Cristo não é um retorno à vida terrena. Seu corpo ressuscitado é o mesmo que foi crucificado, e leva as impressões de sua paixão”. Mas em linguagem teológica não é muito o que convém dizer: “Sim, temos certeza de que a dinâmica do cosmos leva a uma meta, a uma situação em que matéria e espírito se entrelaçarão mutuamente de um modo novo e definitivo. Esta certeza segue sendo também hoje, e precisamente hoje, o conteúdo concreto da crença na ressurreição da carne” (p. 210).
Retorno de Cristo. Acerca dos sinais do retorno de Cristo, valem igualmente para toda época, razão por que não são sinais de nada: “A vista desses sinais, há que dizer precisamente que sempre é o tempo final, que o mundo está sempre tocando o totalmente outro, o totalmente outro que uma vez porá fim ao mundo em sua totalidade enquanto khronos (tempo)” (p. 216). Não haverá um Anticristo: “No que se refere ao anticristo, já vimos que se apresenta no Novo Testamento com as características respectivas deste tipo de tempo e que é difícil reduzi-lo a um só indivíduo, já que para cada geração segue sendo o mesmo, mas com muitas máscaras diferentes. Acertou, pois, Gerhoch de Reichersbeg ao dizer que o anticristo é como uma espécie de princípio da história da Igreja, o qual se concretiza não em uma figura mas em muitas’… é acertada a ideia fundamental de que o anticristo é um somente na pluralidade de suas manifestações históricas” (p. 216). Se notamos, ademais, que em todo o livro nunca se fala do demônio (nem sequer ao tratar do inferno), é preocupante que hoje tenhamos um Pastor tão mal advertido sobre a natureza dos lobos que ameaçam o rebanho.
Quanto ao retorno mesmo de Cristo ou Parusia, parece que não há outro que o que se dá de modo contínuo pela Eucaristia. “Cada Eucaristia é Parusia, vinda do Senhor… A Parusia converte-se em obrigação de viver a liturgia como festa da esperança e da presença em ordem ao cosmocrator que é Cristo” (p. 220). Mas não disse Jesus Cristo que viria sobre as nuvens do céu? Tenha-se em conta que foram esquemas terminológicos que Nosso Senhor teve de usar em razão de nossa estupidez: “Só por meio de imagens se pode descrever em sua própria essência a chegada do Senhor. Em ordem a essa apresentação, o Novo Testamento tomou o material a respeito do que o Antigo Testamento disse sobre o dia de Yahveh, ideias essas que são devedoras, por seu lado, de elementos mais antigos da história das religiões… Desta perspectiva é que é possível valorizar autenticamente a linguagem cósmica dos símbolos no Novo Testamento. Trata-se de uma língua litúrgica” (p. 218). As nuvens são, ao que parece, nuvens de incenso.
Não há que temer, então, que ao final dos tempos nos caia o céu na cabeça e termine tudo em uma grande fogueira final. “Dos elementos cósmicos nas imagens do Novo Testamento não se pode concluir nada em ordem a uma descrição cósmica do curso de acontecimentos futuros. Todas as tentativas neste sentido erraram de caminho. Estes textos são antes uma exposição do mistério da parusia valendo-se da linguagem da tradição litúrgica” (p. 219). Quando São Pedro nos diz ingenuamente que “virá o dia do Senhor como ladrão, e nele passarão com estrépito os céus, e os elementos, abrasados, se dissolverão, e igualmente a terra com as obras que nela há” (II Pedro III, 10), elementos por há que entender, talvez, a cera das velas.
Juízo final. “Tal como ocorre com o retorno de Cristo, assim também escapa o juízo a nossas tentativas de imaginá-lo.” Como nada se distingue, o juízo final confunde-se com o particular, e o particular com o de consciência ao final de cada dia: “Em João o juízo se transladou para o presente desta vida, desta história nossa; esse juízo tem lugar já na decisão que se toma pela fé ou pela incredulidade. Isto não quer dizer que se suprima, sem mais, o juízo final, senão que se lhe dá uma nova relação com a cristologia” (p. 221) — ainda que em verdade não haja juízo: “Cristo não condena ninguém”, “o juízo consiste na queda das máscaras implicada pela morte. O juízo é simplesmente a verdade mesma, sua revelação” (p. 222). Portanto, não é necessário que Cristo assuma o desagradável ofício de juiz: “É o homem, em definitivo, o que se converte em juízo para si mesmo: Cristo não impõe condenação alguma; só o homem pode pôr uma barreira à salvação” (p. 223). Que conteúdo tem, então, que Cristo “há de vir a julgar os vivos e os mortos”? Está vazio, mas o esquema terminológico guarda-se no Compêndio do Catecismo: “135. Cristo julgará os vivos e os mortos com o poder que obteve como Redentor do mundo, vindo para salvar os homens. Os segredos dos corações serão revelados, assim como a conduta de cada um para com Deus e para com o próximo. Todo homem será cumulado de vida ou condenado para a eternidade, segundo suas obras”.
Inferno. A hermenêutica da continuidade pede que se defenda a existência do inferno: “Não há sutilização que valha; a ideia de uma condenação eterna, que se formou visivelmente no judaísmo dos últimos séculos antes do cristianismo, está firmemente arraigada tanto na doutrina de Jesus como nos escritos apostólicos. Nesse sentido, o dogma está sobre terreno firme quando se fala da existência do inferno e da eternidade de suas penas” (p. 232). Mas não existe como pena do pecado, mas como garantia da liberdade. “Que dizer de tudo isto? Em primeiro lugar, que Deus respeita absolutamente a liberdade de sua criatura” (p. 233). “[Cristo] não trata os homens como a menores de idade, que não podem, em definitivo, ser responsáveis por sua própria sorte, senão que seu céu descansa na liberdade, porque até aos condenados deixa o direito de o querer sua condenação”. Dizer que a maturidade do homem supõe “direito” a condenar-se é um modo de dizer pouco feliz que soa a blasfemo. Vista assim, a existência do inferno tem que ver com “a grandeza do homem: a vida do homem é a sério” (p. 233).
O inferno existe, mas seus alicerces não são demasiado firmes. Orígenes sustentou a hipótese de que, “ao final, se tem de chegar a uma reconciliação universal” (p. 232). Esta “esperança de reconciliação universal é algo que se deduz do sistema [do pensamento cristão], mas não do testemunho bíblico”, razão por que se “seguiu percebendo um eco cada vez mais tênue dos pensa- mentos de Orígenes em diferentes variações da chamada doutrina da misericórdia” (p. 233). Se o inferno existe não por decisão de Deus mas por eleição do homem, não é incoerente pensar que Deus possa fazer-nos uma surpresa no último momento. O teólogo, então, não deve sustentar posições doutrinais que afirmem a reconciliação universal, mas pode mantê-la como esperança de oração: “Essa esperança [de esvaziar o inferno pela compaixão] não se converte em reafirmação própria, senão que põe sua súplica nas mãos do Senhor, deixando-a ali. O dogma mantém seu conteúdo real. A ideia da misericórdia que o acompanhou em uma ou outra forma durante a história não se converte em teoria, mas em oração da fé que sofre e espera” (p. 235).
Dos demônios, da pena de dano e de sentido, do fogo, não há rastros. É paradoxal, mas, como veremos, o fogo só vale para o purgatório.
Purgatório. Na defesa do purgatório, Joseph Ratzinger arrisca-se a ser acusado de lefebvrismo, pois até parece pôr obstáculo ao ecumenismo, razão por que se estende no assunto um pouco mais.
Como ocorre com o inferno, o purgatório não teria caráter penal; não teria que ver com castigos de Deus, mas com a liberdade do homem: “Certamente a decisão tomada na vida se encerra de modo definitivo com a morte, mas isso não quer dizer necessariamente que o destino definitivo se alcance nesse momento. Pode ser que a decisão fundamental de um homem se encontre recoberta de aderências secundárias e a primeira coisa que haja que fazer seja limpar essa decisão. Esta situação intermédia’ recebe na tradição ocidental o nome de ‘purgatório’” (p. 235). “Não se trata de uma espécie de campo de concentração no além (como ocorre em Tertuliano), onde o homem tem de purgar penas que se lhe impõem de maneira mais ou menos positivista” (p. 247). Desta maneira se pode salvar o obstáculo ao ecumenismo com os luteranos, pois “a graça não é substituída por obras, senão que chega somente assim a seu triunfo pleno como graça. O sim central da fé salva, mas esta decisão fundamental se encontra na imensa maioria de nós realmente coberta por muito feno, madeira e palha. Só com muito esforço é que essa decisão consegue olhar para cima através do egoísmo que o homem não pôde suprimir” (p. 247). A boa doutrina, em contrapartida, ensina que as almas do purgatório são perfeitas em caridade, sem aderência de palhas, sendo retidas somente em razão das penas de seus pecados.
Quanto ao fogo purificador, não seria outro que o mesmo Cristo: “J. Gnilka mostrou que este fogo provador está assinalando ao Senhor mesmo que vem” (p. 245). “Não será… que o ‘purgatório’ adquire seu sentido estritamente cristão se se entende cristologicamente e se se diz que é o mesmo Senhor o fogo julgador, que transforma o homem fazendo-o ‘conforme’ a seu corpo glorificado?” (p. 246). Como dissemos, este fogo não caberia no inferno. Mas, como assinalamos muitas vezes, o erro não está tanto no que afirma mas no que confunde por não distinguir. É verdade que o amor de Cristo é fogo purificador em sentido impróprio, mas também há fogo propriamente dito que opera como instrumento da justiça no inferno e da misericórdia no purgatório.
E como os gregos cismáticos ficaram congelados na reflexão teológica — “Os gregos rejeitam a doutrina de um castigo e de uma expiação no além, mas têm em comum com os latinos a oração pelos defuntos” (p. 236) — a ecumênica piedade permite-nos reduzir a doutrina do purgatório um pouquinho mais: “Ao menos no que se refere a Oriente e Ocidente, o caminho ecumênico em nossa questão talvez devesse situar-se aqui: o verdadeiramente fundamental é a prática do poder e dever orar. A explicação que se desse à sua realização com respeito ao além não teria por que ser obrigatoriamente única para chegar à união”(19).
Céu. Se recordamos a estranha versão rahneriano-teilhardiana que o autor nos deu da ressurreição final, podemos temer que sua visão do céu seja também muito pouco ingênua. “O céu é algo primariamente cristológico. Não é um lugar a-histórico ‘a que se chega’. O fato de que haja ‘céu’ deve-se a que Jesus Cristo existe como Deus homem e deu ao ser humano um lugar no ser mesmo de Deus (cf. Rahner). O homem está no céu quando e na medida em que se encontra com Cristo, com o que acha o lugar de seu ser como homem no ser de Deus” (p. 250). São expressões confusas, sem distinções nem explicações, mas são suficientes para dizer, pelo menos, que o caráter “cristológico” do céu é levado ao excesso. Porque a união da humanidade de Cristo conosco se dá na ordem da ação à qual se ordena a graça santificante e a glória — e na ordem do ser à qual se ordena a graça de união hipostática exclusiva de Cristo — enquanto o autor sugere aqui o contrário. Mas não nos apressemos a acusar o autor de pretender realizar uma união hipostática de Deus em Cristo com o universo, e tenhamos em conta que a imperfeição de suas ferramentas de pensamento não lhe permite distinguir claramente as ordens do ser e da ação.
Nós estamos acostumados a distinguir o ser do conhecer e a substância da operação, razão por que entendemos que a essência do Céu consiste na visão de Deus. Mas, se deixamos estas distinções de lado e definimos o homem como pura relação numa “antropologia dialógica”, podemos pensar que as coisas se digam de outro modo: “A questão, discutida entre tomistas e escotistas, sobre se este ato fundamental se deveria chamar melhor visão de Deus ou amor depende do ponto de partida antropológico que se adote. Em verdade, sempre se trata do mesmo: da pura penetração de todo o homem pela plenitude de Deus e de sua radical abertura, que deixa Deus seja ‘tudo em tudo’ e faz que que o homem mesmo possa ser ilimitadamente pleno” (p. 251). Quem possa entender, que entenda. Ao menos nos previne de que não confundamos o céu com o nirvana budista: “A fusão do eu no corpo de Cristo, sua utilidade para o Senhor e para os demais em mútua correspondência, não equivale a uma dissolução do eu, mas à sua purificação” (p.251).
Para evitar problemas ecumênicos com os irmãos separados, o autor esclarece que, embora os Evangelhos e a tradição falem do céu como “prêmio”, também é ao mesmo tempo “graça absoluta de um amor dadivado” (p. 252). Por isso não convém estender-se em distinguir condecorações: “A escolástica seguiu sistematizando estas ideias. Fala (incorporando em parte tradições muito antigas) de uma ‘coroa’ especial para mártires, virgens e doutores. Hoje somos mais cautos com respeito a tais manifestações. Basta saber que Deus preenche cada um a seu modo e de maneira total” (p. 252).
Em coerente consequência da ressurreição universalmente-cósmica, o céu não é um “lugar”, pois não há lugar para lugares quando o localizado — o Cristo total — abarca tudo. Porque Jesus Cristo não teria ressuscitado em união substancial com a porção material de seu corpo, mas em vinculação dialogal com a matéria total do cosmos: “A dimensão cósmica do enunciado cristológico ocupou-nos já extensamente em reflexões anteriores. A ‘exaltação’ de Cristo, quer dizer, a entrada de sua existência humana no Deus trinitário pela ressurreição não significa realmente sua partida do mundo, mas um novo modo de estar presente nele… De modo que Cristo exaltado não está ‘desmundanizado’, mas acima do mundo e, deste modo, referido ao mundo” (p. 252). “O céu, portanto, não se pode localizar em um lugar, nem fora dentro de nosso espaço, mas tampouco se pode desvincular simples- nem mente do cosmos, considerando-o como mero estado’ [como fazem os que desmaterializam a ressurreição]. Céu quer dizer, antes, esse domínio sobre o mundo que compete ao novo espaço do corpo de Cristo, à comunhão dos santos” (p. 253).
É verdade que, no final dos tempos, todo o cosmos será transformado para a glória de Deus, havendo novo céu e nova terra. Mas, como o autor não distingue o corpo real de Cristo de seu Corpo místico, e tampouco distingue o ser substancial da pessoa dos santos da substância renovada da terra e do céu, perde-se a inteligência numa universal confusão.
C. Conclusão
Concluiremos dando nosso parecer sobre a obra, o autor e sua hermenêutica da continuidade.
1º A obra
Com a leitura detida desta obra cremos ter tocado, pela primeira vez, a vertigem em que vive um crente quando seu espírito é invadido pela tenebrosa névoa do pensamento moderno. Permita-se-nos descrevê-lo com uma imagem. A teologia tomista consolida a terra sob nossos pés e abre o céu sobre nossas cabeças. O são uso da razão, que mostra com evidência como se induzem os princípios universais da experiência concreta dos sentidos, dá consistência a nosso conhecimento da ordem natural, consolidando a terra que pisamos. E, quando, com os pés firmes sobre a terra da santa razão, a fé nos mostra o céu das verdades reveladas, estas se abrem à inteligência como claros entre nuvens, deixando passar a luz do mistério de Deus.
A teologia moderna, em contrapartida, é como se invertesse tudo, cobrindo o céu sobre nossa cabeça e abrindo um abismo sob os pés. Porque, como a serpente a Eva, fere a fé sugerindo a suspeita de que as verdades reveladas são só metáforas ou parábolas boas para a infância: “Não sejais ingênuos, não morrereis; bem sabe Deus que se ‘interpretais’ se vos abrirão os olhos e sereis como Ele”. Mas não só fere a fé, senão que adoece a mesma razão natural, fazendo-nos duvidar da mesma realidade sobre a qual pomos os pés. O teólogo moderno fica aferrado a uns “esquemas” de fé cada vez mais vazios, sobre um abismo de dúvidas cada vez mais profundo.
Este é um livro que faz mal, “não comais dele, nem o toqueis sequer, não vades morrer”.
2º O autor
É delicado falar do autor, mas sendo hoje o Vigário de Cristo (hesitamos quanto a deixar escritas certas frases irônicas que não pudemos evitar, porque ele merece respeito como Pontífice, ainda que não como teólogo). Mas parece-nos conveniente dizer o que apreciamos. Os que fomos formados desde o berço (o do seminário, claro) no pensamento tomista, podemos ser excessivamente duros na hora de julgar as almas feridas pelo modernismo. Se, como acabamos de dizer, lendo a Joseph Ratzinger sentimos vertigem pela primeira vez, não sendo a primeira vez que lemos autores modernos, é justamente porque o autor — assim o cremos — não está no fundo do abismo (já não sente vertigem quem já caiu). Percebem-se-lhe tanto a intenção de crer como a intenção de não deixar cair a razão no idealismo.
3º A hermenêutica da continuidade
A intenção de continuidade com a tradição, por sincera que seja, se não está sustentada por um são uso da razão teológica, não muda em sua substância as consequências da “hermenêutica da ruptura”. Não condena eficazmente os erros que o mais exacerbado modernismo espalha, não defende eficazmente a verdade, e a única coisa que pode chegar a alcançar é esvaziar a tradição de maneira mais gradual: eis aí todo o conseguimento da continuidade — conquanto não neguemos que, acidentalmente, ao frear a velocidade de ação do mal, as brasas de uma fé ainda não apagada possam reacender na Sé romana o fogo da caridade verdadeira que Nosso Senhor Jesus Cristo tanto deseja que arda.
Notas:
1. Joseph Ratzinger, Mi vida. Recuerdos (1927–1977), Ediciones Encuentro, Madrid, 1997, p. 126.
2. Joseph Ratzinger, Mi vida. Recuerdos (1927–1977), Ediciones Encuentro, Madri, 1997, p. 111: “Se ao voltar à minha pátria no primeiro período conciliar me havia sentido sustentado ainda pelo sentimento de gozosa renovação que reinava por toda parte, experimentava agora uma profunda inquietude em face da mudança que se havia produzido no interior do clima eclesial e que era cada vez mais evidente. Em uma conferência sobre a verdadeira e a falsa renovação da Igreja, pronunciada na Universidade de Münster, tentei lançar um primeiro sinal de alarme que, não obstante, mal se captou. Mais enérgica foi minha intervenção no ‘Katholikentag’ de Bamberg, no ano de 1966, tanto que o cardeal Döpfner se surpreendeu com os traços conservadores’ que ele cria haver percebido”.
3. Como ele mesmo reconhece, Joseph Ratzinger recebeu sérias advertências sobre seu subjetivismo desde os começos de seu labor teológico. Confessa em suas Recordações: “Tratava-se de minha tese de habilitação para a livre docência, e Michael Schmaus, a quem provavelmente haviam chegado de Freising rumores de vozes irritadas sobre a modernidade de minha teologia, não via nestas teses, em nenhum caso, uma fiel interpretação do pensamento de Boaventura (coisa, por outro lado, de que hoje ainda estou convencido), mas um perigoso modernismo que conduziria necessariamente à subjetivização do conceito de revelação” (Mi vida. Recuerdos (1927–1977), p. 84). E tenha-se em conta que Michael Schmaus absolutamente não é o paladino do realismo tradicional.
4. “Sincrônica” significa simultânea e refere-se à continuidade da multidão cristã em cada tempo; “diacrônica” é a continuidade ao longo do tempo.
5. Duas vezes denuncia que o Novo Missal se dobrou excessivamente às teorias desplatonizantes que desconhecem a existência da alma: “A ideia de que não é bíblico falar da alma impôs-se de tal maneira — reconhece — que até o novo Missale Romanum de 1970 suprimiu na liturgia exequial o termo anima, desaparecendo igualmente do ritual de sepultura” (p. 125). Cf. também o Anexo (p. 289).
6. Diz na p. 288 do Anexo “Como em muitos outros âmbitos, também aqui a radicalidade de Lutero demonstrou ser uma antecipação na história do espírito que só muito tempo depois haveria de desenvolver plenamente sua ação”. Soa muito hegeliano.
7. Os conceitos de todo e de parte se dizem diferentemente em grego e em alemão, mas, feitas as devidas traduções, todo aquele que tenha sa inteligência estará de acordo em que “o todo é maior que a parte” tanto na Ratisbona de hoje como na Atenas de dois mil anos atrás.
8. Santo Tomás, Suma contra os Gentios, livro I, cap. 1.
9. Ele mesmo suspeita, segundo diz em suas Recordações: “Tive antes dificuldades no acesso ao pensamento de Tomás de Aquino, cuja lógica cristalina me parecia demasiado fechada em si mesma, demasiado impessoal e preconfeccionada. Pôde influir nisso também o fato de que o filósofo de nossa Escola Superior, Arnold Wilmsen, nos apresentasse um rígido tomismo neoescolástico, que para mim estava simplesmente demasiado longe de minhas perguntas pessoais” (Mi vida. Recuerdos (1927-1977), p. 56).
10. A não ser que algo nos tenha passado despercebido, não encontramos nunca nenhuma citação textual de Santo Tomás, nem nenhuma referência direta a suas obras, nem sequer na abundante bibliografia que dá para cada um das partes da obra. São sempre referências indiretas: dizem que diz. É curioso.
11. Ratzinger dá por certo que, para Aristóteles, o intelecto é um princípio impessoal, como sustentou o averroísmo latino: “[Em Aristóteles] a alma se converteu em princípio orgânico, como forma atada à sua matéria e com ela também passageira. O verdadeiramente espiritual radica agora no νους, mas que não se entende como algo individual e pessoal” (p. 162). Mas é uma interpretação falseada. “Há que excluir absolutamente”, diz Fraile OP em sua História da Filosofia, “a interpretação árabe da imortalidade impessoal, baseada na subsistência do intelecto agente comum a todos os homens, o qual não tem fundamento algum em Aristóteles” (BAC, tomo I, p. 504).
12. E. Gilson, La filosofia em la Edad Media, Gredos, 2ª ed. 1989, p. 578: “Durando de São Porciano concebe o homem como a união do corpo e da alma que é sua forma: mas esta noção de uma alma-forma, que vimos abrir caminho tão lentamente nos pensadores cristãos, produz em Durando efeito que seus adversários haviam previsto e temido: torna difícil conceber a imortalidade da alma” (p. 580). Diz-se que um bispo propôs como epitáfio: Durus Durandus facet hic sub marmore duro. / An sit salvandus ego nescio, nec quoque curo. “O duro Durando aqui jaz, sob o mármore duro. Se se salvou não sei, nem por sabê-lo me apresso”.
13. Suma Teológica, I, q. 14, a. 1.
14. A confusão tem prolongações infinitas, porque, ao considerar ao homem como uma relação subsistente de conhecimento e de amor, o autor se dá ao luxo de mostrar a pessoa humana como imagem perfeita das Pessoas divinas, que se distinguem somente enquanto relativas: “A vida eterna não se explica pela existência individual isolada e pelo poder de cada um, mas pelo estar relacionado, realidade que é constitutiva do homem. Mas este enunciado sobre o homem remete por seu lado à imagem de Deus, é o que em definitivo desvela o núcleo da compreensão cristã da realidade: também Deus tem imortalidade, ou melhor, é imortalidade enquanto acontecer relacional de amor trinitário” (p. 175). Ah! para desfazer o imbroglio se faz necessário estudar o tratado inteiro de Deus Uno e Trino de Santo Tomás!
15. Já havia tratado da eternidade um pouco antes: “É logicamente factível trasladar o homem ao estado de pura eternidade, havendo passado como tempo o decisivo de sua existência? Será que pode ser eternidade de verdade uma eternidade que começa?… Lohfink dá-se conta de que a morte não leva sem mais ao atemporal, mas a uma nova forma de temporalidade, como a que convém ao espírito criado” (p. 129). Com seu argumento de que não pode haver eternidade com começo, o autor deixa uma interrogação por resolver sobre a possibilidade de “vida eterna” que Nosso Senhor nos promete. Sua objeção não é vá, e a resposta está perfeitamente dada por Santo Tomás. O homem participa da eternidade divina pela visão beatífica, ainda que siga tendo certa sucessão de ações que poderia chamar-se impropriamente “temporalidade”. Em face da doutrina tomista, suas reflexões são como as de um jovenzinho que, por dar uma solução sem distinções, deixa sem solução dez outros problemas.
16. W. Brugger. Diccionario de Filosofia, Herder Barcelona 1995, p. 213.
17. Poderia concluir-se equivocadamente que, com suas ideias de ressurreição cósmica, Joseph Ratzinger nega a ressurreição real de Nosso Senhor. Tenha-se em conta que a identidade corporal pertence à alma de cada pessoa e pode expressar-se de diferentes maneiras. O autor é contra o que “sugere uma descorporalização e des-historização da ressurreição do Senhor” (p. 296, nota 12).
18. E. Gilson, La filosofia en la Edad Media, Gredos, p. 335–336.
19. Para desencargo do autor, terminemos seu parágrafo: “Ainda que se haja de reconhecer, como se mostrou, que a forma e os fundamentos da doutrina ocidental estão enraizados numa tradição mais antiga e em motivos centrais da fé”.
Excerto de P. ÁLVARO CALDERÓN, F.S.S.X.; A candeia debaixo do alqueire, Castela Editorial, 2020, pp. 429-468.





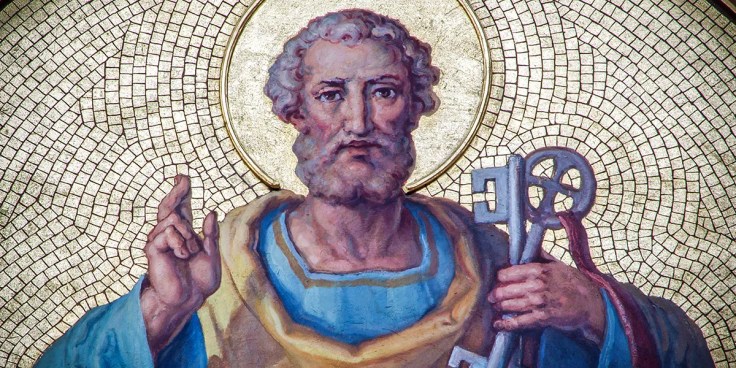







Deixe um comentário